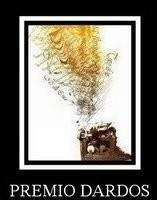A principal pergunta sociológica suscitada pelos resultados eleitorais deste domingo é, afinal, também uma perplexidades de grande parte dos cidadãos:
Como é que, após 4 anos de incompetência governativa e holocausto social, o PSD e o CDS, tendo embora perdido tantos votos, ainda tiveram tanta gente disposta a votar neles?
As perdas do governo nada tiveram de irrelevante.
Perderam mais de 745.000 votos (26,5% do seu eleitorado em 2011) e quase 12% dos votantes, passando de uma maioria absoluta de votos para uns meros 38,5%.
O governo teve, assim, o segundo pior resultado da direita desde sempre, só acima dos miseráveis 36% obtidos pela soma de Santana Lopes e de Paulo Portas há 10 anos atrás.
Não obstante esta hecatombe, como é que ainda houve mais de dois milhões de portugueses dispostos a votar neles?
Vemos surgir inúmeras tentativas de explicação, que vão das teorias da conspiração ao Sindroma de Estocolmo.
Claro que houve, desde há muito, mentiras sistemáticas, estatísticas e deliberadas acerca do estado do país. Mas, apesar de serem contrapostas e desmontadas, elas passaram como verdades para muita gente. Fazendo crer que "o pior já passou" e que esta gente sabe o que faz.
Claro que houve o anúncio de medidas populistas de última hora. Mas a verdade é que, apesar do seu ridículo que parecia evidente, elas parecem ter sido tomadas por muitos como provas de uma melhoria futura.
Claro que houve um forte empenhamento editorial dos mais poderosos mass media. Mas a manipulação da opinião de cada um de nós (pois não existe tal coisa como "opinião pública") não é possível sem algum grau de plausibilidade e credibilidade.
Podemos até supor que, após 4 anos de imprevisibilidade individual e de medo de um futuro tão próximo como amanhã, se tenha criado um caldo de cultura para que muitos possam pensar (como João Pereira aponta em Moçambique) que «Antes o 'diabo' conhecido do que um 'anjo' desconhecido». Mas quais os componentes da receita desse caldo, a quem faz ele efeito, quem poderá ser-lhe imune?
Claro está que a principal alternativa governativa, o PS, enfrentou uns escândalos desagradáveis (que coincidiram com alturas particularmente inconvenientes) e, julgando há tempos ter a vitória assegurada, não conseguiu ser convincente nem como alternativa governativa, nem como fundamentalmente diferente do governo que existia. É até verdade que, tendo feito pela primeira vez os "trabalhos de casa" e tendo brandindo a pastinha mágica com que brincou Ricardo Araújo Pereira, dela só acabaram por chegar ao público as desnecessárias medidas em que mais se assemelhava à direita. Mas, que diabo! Porque é que, desta vez, houve tanta gente que não sentiu (ao contrário do que aconteceu em várias eleições anteriores) que qualquer coisa seria melhor do que esta gente, talvez a mais odiada de qualquer governo constitucional?
Afinal, nenhuma destas coisas, separadas, nem todas elas juntas permitem uma resposta satisfatória à pergunta que inicialmente formulei.
Para a encontrar, teremos que a procurar mais e melhor - e estará certamente na interacção de muitos factores, muitos deles simples coisas que nos pareçam tão normais que nem as notamos.
No entanto, há um factor que teve uma influência evidente e relevante nos resultados eleitorais e que, neste dia seguinte, se torna fulcral para o nosso futuro colectivo.
Trata-se de um factor que está, afinal, ligado a uma outra pergunta:
É aceitável (para já não dizer "desejável") que, na sequência do seu segundo pior resultado eleitoral de sempre, e perante uma folgadíssima maioria de esquerda nas urnas e no parlamento, a direita continue a governar?
É aceitável (para não dizer "concebível") que os partidos de esquerda não façam absolutamente tudo o que possam para, dentro da sua diversidade e diferenças, o impedir e para procurarem alcançar uma alternativa governativa?
De facto, esse factor significativo para que o PS só tivesse agora conseguido menos de 1/3 dos votos e, talvez, para que bastantes indecisos tivessem votado no governo, é ainda mais fulcral nos próximos dias.
Lembremo-nos: Durante a campanha eleitoral, não havia credibilidade possível nos apelos do PS a uma maioria que lhe permitisse governar sozinho. (Nem, verdade seja dita, surgia nenhuma razão para que, fora do mundo dos seus mais ferrenhos apoiantes, alguém sentisse vontade de lha dar.)
Não obstante, António Costa recusou-se sempre a fazer qualquer alusão à possibilidade, por muito remota que fosse, de negociar à sua esquerda a viabilização de um seu governo, com ou sem a presença dos outros partidos. Recusou-se mesmo quando, inesperadamente, Catarina Martins o interpelou com essa possibilidade, apontando condições muito modestas para encetar um diálogo.
Dado que ninguém acreditava em maiorias absolutas do PS, Costa assumiu a imagem de quem se recusava a ter condições para ser governo, não só perdendo votos à esquerda, como com isso não os ganhando (e provavelmente perdendo) à sua direita.
Jerónimo de Sousa, por seu lado, limitou-se a reproduzir o discurso do «Governar para quê? Com que políticas? Não com políticas de direita.», sem explicitar quais seriam as garantias e condições mínimas, em termos de conteúdos políticos, para se sentar a discutir e negociar políticas que pudesse apoiar - ou, mesmo, participar na sua implementação.
Não será por acaso, nem apenas por causa dos excelentes desempenhos de Catarina Martins nos debates, que foi o BE quem mais subiu entre todos os partidos, numas eleições em que a maior preocupação da generalidade dos eleitores à esquerda era pôr ponto final na governação PSD/CDS e criar uma alternativa viável.
O BE, afinal, capitalizou em votos o facto de ter sido o único a declarar sem dubiedades que pretendia negociações para viabilizar uma solução de governo de esquerda, e a dizer o que é que exigia para começar a conversar.
Passadas as eleições, também o PCP declara a sua disponibilidade, não só para inviabilizar um novo governo PSD/CDS, como para procurar alternativas governativas.
Não me lembro de alguma altura em que tenha havido uma tão clara abertura da esquerda à esquerda do PS para um diálogo viabilizador de soluções governativas.
Por óptimas razões. Porque o governo anterior teve um efeito arrasador no país e nos mais básicos instrumentos de justiça social e de protecção elementar dos cidadãos. Porque os seus objectivos e práticas não foram de equilíbrio financeiro, mas de subversão e substituição das bases fundamentais do contrato social que construímos ao longo destes 40 anos. Porque a sua acção foi insuportável e agravou os problemas financeiros que reclamava como bases da sua legitimidade. Porque a maioria das pessoas consideram (e mostraram-no votando) imprescindível e urgente a ruptura com essas políticas.
Face a isso, é uma obrigação básica do PS deixar que o deixem ser governo (se com coligações governativas ou com acordos políticos e parlamentares, só se saberá discutindo e negociando). E contribuir para que o PSD e o CDS não o sejam.
No meio disto tudo, o futuro político do líder do PS é o menos importante, e aquilo que menos me interessa. Mas uma coisa é certa: se a cabeça de António Costa não rolou ontem à noite, só não rolará a curto prazo se ele tiver a coragem de assumir as suas responsabilidades para com o país e as expectativas dos cidadãos que votaram à esquerda; se ele tiver a coragem de governar, e de governar com a maioria de esquerda.
Até porque, afinal, se for para deixar o PSD/CDS continuar a governar e a destruir o país e as nossas vidas, para que serve e que falta faz António Costa? Que falta faz o PS?