Uma boa
parte (embora minoritária) dos eleitores vota sempre num mesmo partido. Porque,
seja qual for o partido em que votam, o consideram “o seu”, façam ou não
formalmente parte dele.
Para as
pessoas com este legítimo padrão de voto, não se coloca a questão de em quem
votar, nem de que o seu voto conte. O seu voto conta sempre, porque é
contabilizado no apoio ao “seu” partido, independentemente de outras
consequências políticas. E, face à sua avaliação e opção que sentem como
permanente e definitiva, torna-se-lhes em muitos casos difícil conceber como é
que os outros não vêem aquilo que é, para si, tão evidente.
Mas são os
restantes votantes (e, de forma indirecta, os não-votantes) quem decide os
resultados das eleições, a partir desse quadro relativamente estável. E
decidem, muitas vezes involuntariamente e a contra-gosto, os resultados
governativos que delas acabam por sair.
Para esta
maioria, particularmente na situação social e económica que vivemos, a
preocupação e busca é que o seu voto conte. Ou então, o desinteresse vem da
sensação de que o seu voto não contará para nada.
Isto
porque, se é verdade que elegemos deputados e não primeiros-ministros, votamos
tendo em vista as soluções governativas e políticas públicas que mais nos
agradem ou, para muitos, que menos nos desagradem. Ou abstemos-nos por acharmos
que o nosso voto nada contaria para decidir isso.
Não
obstante, poucas vezes um voto (ou uma abstenção) terão contado tanto como no
próximo domingo. E poderão contar para coisas muito diferentes.
Paradoxalmente,
é de certa forma pouco relevante quem fique em primeiro lugar nestas eleições.
Seja o PS ou seja (como incrivelmente parece vir a tornar-se possível) a
coligação PSD/CDS, nunca poderão governar apenas de acordo com a sua vontade. E
poderão mesmo não vir a governar, ficando em primeiro lugar.
Mas
paradoxalmente, também, isso é uma razão suplementar que dá importância a cada
voto e ao próprio facto de se escolher votar ou não .
Imaginemos
que fica em primeiro lugar a coligação PSD/CDS. Só poderá ser governo se os
partidos de esquerda (que certamente ficarão em maioria, no seu conjunto)
deixarem. No mínimo, o PS teria que se abster na votação do Orçamento de Estado
e do Programa de Governo apresentados pela direita. É fácil que isso não
aconteça (sobretudo se existirem perspectivas de diálogo governativo à
esquerda, mas já lá vamos) se a coligação de direita ganhasse com uns 35 ou
37%. Mas se conseguissem uns 40%, dificilmente o PS teria coragem para
inviabilizar à partida um governo de direita.
Por isso,
ir votar (seja em quem for) não é irrelevante para qualquer pessoa que não
queira continuar a ter Passos Coelho como primeiro-ministro. Quanto mais
pessoas fartas de Pedro & Paulo ficarem em casa, maior será a
percentagem que estes obterão com o mesmo número de votos, e maiores serão as
suas condições para serem governo, mesmo que minoritário.
Imaginemos
agora que, conforme toda a gente dava por garantido há um mês atrás, o PS fica
em primeiro lugar. Tão pouco ele poderá governar sozinho. Ou terá que se
encostar à direita, ou terá que procurar e conseguir formar um governo com pelo
menos parte da esquerda, ou terá que negociar um acordo parlamentar à sua
esquerda para suportar um governo minoritário, seja ele monocolor ou de
coligação. (Opções que, aliás, também se colocam caso fiquem em segundo lugar,
mas com uma confortável maioria de esquerda no parlamento).
Costa
declarou que não faria governo com Passos Coelho. Mas «a leitura da vontade do
eleitorado, expressa nos resultados eleitorais», «a defesa do interesse
nacional», e coisa e tal, podem facilmente voltar a saltar para o discurso
político, para justificar uma solução de mais do mesmo.
No entanto,
essa possibilidade bem real será tanto menos provável - e terá tanto menos
espaço para ocorrer - quanto maior for a votação obtida pelos partidos à
esquerda do PS. (E, claro está, quanto maior for a capacidade destes para terem
abertura de diálogo e para obterem dele os melhores resultados negociais - mas
isso já são condições que transcendem o nosso acto de votar, embora sejam por
ele influenciadas.)
Por outro
lado, o peso da votação à esquerda do PS não contribui apenas para evitar um
regresso à continuidade do mesmo, sob formas ligeiramente diferentes. Potencia
também (por via da necessidade de dialogar e negociar, e com participações
governativas ou sem elas) o compromisso, mesmo que parcial, com as políticas e
soluções que são consensuais ao longo da esquerda. Políticas que, sendo para
uns o mínimo dos mínimos e constituindo para outros esquerdismos a que
prefeririam fugir, são o essencial da ruptura com o actual e calamitoso estado
das coisas.
Quero com
isto dizer que, para quem esteja insatisfeito com aquilo que vivemos nos últimos
4 anos, há duas hipóteses racionais, em função da forma como se situe a si
própri@ relativamente ao espectro politico-partidário:
a) se tem
concordância e satisfação com as propostas avançadas pelo PS e/ou tem nesse
partido uma confiança muito superior à média, entre os cidadãos portugueses,
deverá votar PS;
b) se quer
assegurar que o seu voto conte - para além da sua mera contabilização no
partido em que vote - para maximizar as possibilidades de uma política
governativa de ruptura com a lógica austeritária e de destruição do nosso
contrato social, deverá votar no partido que, à esquerda do PS, mais lhe agrade
ou menos lhe desagrade, de entre aqueles que parecem ter condições para atingir
representação parlamentar. Por ordem de antiguidade, CDU, BE ou Livre.
Não votar
não é uma terceira hipótese. Neste quadro, é uma mera irracionalidade.
(A menos
que não se reconheça legitimidade à democracia representativa. O que é
legítimo. Mas é também, no quadro presente, um mero demissionismo.)













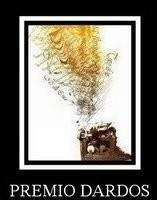
Sem comentários:
Enviar um comentário