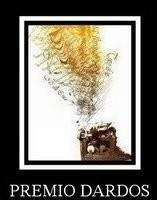segunda-feira, 5 de outubro de 2015
Perguntas, dúvidas e possibilidades
sexta-feira, 2 de outubro de 2015
Como fazer com que o nosso voto conte
segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015
€urobimbos
Para usar uma expressão em português supostamente rural, «a minha alma está parva» com a arrogância, irresponsabilidade e imbecilidade dos ministros das finanças do €urogrupo.
Para darem «um puxão de orelhas» a um governo democraticamente eleito com o mandato de acabar com a austeridade das mais gravosas medidas do programa assinado, por outros e sob coação, com a troika, sentam-se a "negociar" com a proposta de manter tudo como antes - o que é sabidamente impossível.
Mas, para além do ridículo da situação e da declaração de se estarem nas tintas para a democracia (desde que os seus resultados não sejam os que gostam) que ela constitui, e para além da cobardia de terem embarcado nisto os que foram eleitos a dizer que "há vida para além da austeridade" e os que disseram que as propostas gregas são sensatas e razoáveis, fico parvo com o facto de não parecerem perceber que a Grécia tem alternativas fora da UE, e que elas são terríveis para o futuro da União.
Está bem que são ministros das finanças/contabilistas,não têm obrigação de perceber dessas coisas, mas seria de esperar que os seus primeiros-ministros lhes tivessem posto a trela, ou percebessem eles próprios um bocadinho de política internacional.
Para a China, os Estados Unidos ou mesmo a Rússia em crise, os milhares de milhões de Euros de que a Grécia precisa para estabilizar a sua situação são trocos.
Para a China, aplicá-los a juro baixo na Grécia seria um excelente investimento a prazo, não saindo esta da UE.
Para a Rússia, poderia facilmente significar o fim das sansões da União Europeia, pois basta que um país membro as vete para que elas deixem de existir enquanto tal.
Para os Estados Unidos, para além de porem a Europa de cócoras e assegurarem ascendente sobre um parceiro fulcral na NATO, intervir seria ainda a melhor forma de assegurar a continuidade das sansões.
Para estes toininhos (de que as declarações contentinhas de Maria Luís são uma patética disclosure) nada disto existe e o mundo acaba no BCE.
Mas outra disclosure aconteceu: o lamentável documento entregue ao ministro grego das finanças, com a indicação de "confidencial", foi por este disponibilizado publicamente logo após o precipitado fim da reunião, tornando visível a todos a cagada do €urogrupo.
Parece que os senhores ficaram muito agastados com esse facto.
O que é uma razão para esperança. Talvez, afinal, sejam menos imbecis do que o seu comportamento.
sábado, 11 de outubro de 2014
O coveiro do regime democrático
domingo, 6 de abril de 2014
Vacinas e polémicas
domingo, 30 de março de 2014
Fés, cartadas e crises
Foi substituida por uma casa de batota clandestina, que após um sucesso inicial acabou por ter o mesmo triste fim, ao que parece pelos mesmos motivos.
Voltou agora a ser uma nova micro-igreja, com o mesmo potencial e garantias de sucesso pessoal.
Parece que, entre a fé que move carteiras e as carteiras movidas pela fé na sorte, o pessoal se move - sem grande fé em mais nada.
domingo, 23 de março de 2014
Coisas de que a gente se lembra, quando está de baixa - 1
Estávamos de visita ao tio de um amigo, filho do último régulo do Xipamanine.
Depois de me mostrar Taninga e a sua pequena propriedade, disse:
- Quero oferecer-lhe aquele cabrito. É seu.
Quando já me imaginava a regressar de chapa a Maputo com um cabrito pela trela (nada que, na verdade, nunca tivesse visto), percebi com um ambíguo alívio que o animal ia ser morto ali.
Sentámo-nos e conversámos longamente, naquele ritmo que a paisagem de savana pede. Alguns vizinhos foram-se juntando, depois de respeitosos pedidos de licença ao dono da casa e, estranhamente, a mim.
Acabou por vir para a mesa uma enorme travessa de cabrito grelhado e muito cheiroso. Salivei. Estávamos há mais de uma hora a beberricar o vinho que eu tinha trazido e já tinha sido aberto um garrafão, mandado vir da cantina mais próxima.
- Coma, doutor.
Servi-me e mais ninguém o fez. Insisti para que o fizessem.
- Coma, doutor. Coma...
Comi. A conversa continuava boa, o vinho ia baixando no garrafão, mas só eu comia. Os outros olhavam e sorriam, com prazer no meu avantajado apetite. Claro, estava confuso. Mas nada no ambiente indicava que estivesse a fazer algo de errado.
Quando me dei por vencido, chegou à mesa uma grande panela com cabrito guisado.
- Prove deste. É diferente. Sei que gosta de chima. Quer um pouco, para ajudar?
Sentia-me transbordar. A última coisa que queria, agora, era a minha apreciada pasta de milho. Recusei, traduzindo literalmente a fórmula de boa educação que conhecia. Afinal, toda a gente estava a esforçar-se para falar apenas em português.
Mas servi-me, de novo confuso. O sabor era tão bom e os sorrisos de prazer tão evidentes que repeti.
Por fim, tive que dizer:
- Estava tudo muito bom, mas já não consigo mais. Estou cheio, mesmo!
Num ápice, toda a gente se serviu. Longamente, repetiram e repetiram enquanto conversávamos, até nada mais sobrar. Agora, era eu quem apenas beberricava vinho "Amália" e sorria de prazer.
Finalmente, tinha percebido.
Aquele era o meu cabrito. Para eu comer até não poder mais. Só depois disso os meus amigos, e os amigos deles, deviam partilhar a boa fortuna que me tinham proporcionado.
Gente bela, estes meus patrícios de coração.
quarta-feira, 19 de março de 2014
Direitos e opiniões

quinta-feira, 5 de dezembro de 2013
sábado, 23 de novembro de 2013
Será que os políticos andam a dar ouvidos aos cientistas sociais?
Não é habitual que os políticos (e os poderosos em geral) dêem ouvidos a cientistas sociais.
Isto excepto, claro está, quando um modismo tenha metamorfoseado o estatuto de um deles no de augure, de quem qualquer opinião trivial, enquanto cidadão e acerca de algo que nunca estudou, deverá suscitar a reverência devida à omnisciência da palavra revelada.
Menos habitual é, ainda, quando os cientistas sociais dêem em dizer coisas que saiam dos caminhos traçados e, sobretudo, daquilo que querem ouvir.
Não obstante, ao ouvir ontem Mário Soares alertar para o perigo de violência pública e para o carácter perigoso do medo, não pude deixar de notar que o conteúdo das suas declarações, que tanto brado estão a dar, me era muito familiar, em coisas que foram ditas e escritas há mais de um ano, sem aparentes consequências.
Claro que os cientistas sociais (quando não sejam apontados como augures, que se espera digam "eu cá acho que...") têm que ser um bocado mais complicados e enfadonhos.
Por exemplo, não podem limitar-se a dizer "Vem aí porrada!". Têm que argumentar e demonstrar porquê, como, através de que mecanismos, a partir de que factores e combinações entre eles.
Tal como aconteceu na curta comunicação que é visível a partir da 1 hora e 1 minuto deste vídeo.
Que mais importante do que a existência desses factores é a forma complexa e dinâmica como eles interajam entre si e com muitos outros factores (entre os quais o medo, mas já lá vamos), mas que, resultando eles das actuais políticas, a única forma de garantir a segurança pública é reverter essas políticas.
O que, claro está, se não os livra de eventuais admostações dos seus "mais velhos" pela divulgação pública do atrevimento das suas conclusões, diminui um bom bocado o nível de sound bit da coisa.
É isso que faz com que os seus alertas tenham quase sempre um impacto muito reduzido?
Não creio. Terá mais a ver com quem os faz - tanto no que diz respeito à notoriedade pública, quanto por ser cientista social acabar por constituir uma desvantagem, quando se sustenta algo de novo e indesejado.
Também os resultados potencialmente perigosos da instigação do medo, ontem aflorados en passant por Mário Soares, me trouxeram de imediato à memória uma outra xaropada, daquelas com argumentos em vez de opiniões, publicada há quase 2 anos. Chamava-se a coisa "O medo, suicídio e eutanásia da cidadania", imaginem.
Será coincidência, a integração dessas questões, ontem, numa passagem central do violento e badalado discurso de um dos mais conhecidos políticos?
É, claro está, muito possível. Pode chegar-se à mesma conclusão por muitos caminhos, em muitas cabeças sem contacto entre si. E o agravamento das situações pode tornar quase evidente o que tempos antes só era dedutível.
Mas... e se isso quer dizer que os políticos andam a dar ouvidos, mesmo que com mais de um ano de atraso, aos cientistas sociais?
Ou, assim sendo, serão só os que já estão reformados, e se sentem livres para dizer o que querem?
Ou será que o que manda são os timings da utilidade para o discurso político, e não a relevância social desse discurso científico, já antes desse timing chegar?
Curiosidades que me ficam. Porque têm implicações que vão muito para além deste caso.
quinta-feira, 21 de novembro de 2013
Maputo surpreende
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
Moçambique a votos, até ver sem tiros
A principal excepção parecem ser os relatos de votantes que se passeiam na Ilha de Moçambique com colecções de cartões de eleitor e, miraculosamente, nunca têm que pôr o dedo na tal tinta indelével (de que eleitores em Quelimane se queixam de sair muito depressa) e, por isso, podem ir saltando de mesa de voto em mesa de voto.
Outras, são a ausência da candidata do pequeno Partido Humanista nos boletins de voto de Nampula, várias ilegais proibições de que jornalistas tenham acesso às Assembleias de Voto e assistam às contagens, ou ainda a detenção na esquadra de Mocuba, durante 4 horas, do director do jornal Savana e de um jornalista do Diário da Zambézia.
Estes, deslocavam-se em reportagem ao Gurué, quando foram mandados prender por um candidato da Frelimo (!), sob a acusação de quererem fazer campanha elitoral em dia de votação (!!), por terem consigo alguns exemplares dos jornais onde trabalham (!!!).
Não há, no entanto, notícia de ataques por parte da Renamo para intimidar as pessoas que pretendem votar - uma hipótese que não era de descartar, apesar desse partido ter declarado que não o faria, por considerar que, tendo eles boicotado as eleições, estas não eram válidas.
Uma curiosa e preocupante declaração, por demonstrar que esta força política continua a considerar, 21 anos depois da guerra civil, que mesmo não detndo nenhuma presidência de município (ao contrário de outro partido da oposição) e apesar de todas as restantes forças políticas e vários grupos de cidadãos terem concorrido, nenhuma eleição é válida se eles se recusarem a participar.
E, sem desvalorizar a importância das autarquias para a vida das pessoas e mesmo para a evolução das atitudes políticas (veja-se o caso da Beira, Deviz Simango e a emergência do MDM), aquilo que afinal acaba por suscitar mais curiosidade neste processo eleitoral é o efeito prático desse boicote, e a forma como as forças políticas poderão reagir, quer a um aumento realmente significativo da abstenção, quer a um seu aumento pouco significativo, ou mesmo redução.
De facto, não sendo de esperar mudanças de vencedores na Beira e Quelimane (MDM) e na grande maioria dos municípios presididos pela Frelimo, as poucas disputas incertas são, claro está, alvo de interesse; mas ainda mais interessante do que a capacidade ou não (já demonstrada nas duas cidades que referi) de o MDM ir buscar votos à Frelimo, será verificar se aquele partido é capaz de capitalizar ou não uma parte muito significativa dos habituais votantes da ausente Renamo, em detrimento da abstenção.
Á actual situação de tensão (para usar um eufemismo), a repulsa das pessoas perante a hipótese de uma guerra e o discurso desde início anti-belicista do MDM fazem suspeitar que, muito provavelmente, conseguirá fazer essa capitaliazação.
Mas (de novo sem desvalorizar as próprias autarquias e as eleições autárquicas) a importância da relevância ou irrelevância numérica do boicote da Renamo não se esgotam, naquilo que mais interessará para o futuro próximo e para a resolução da situação actual, com o fecho das urnas.
Um pouco provável aumento dramático da abstenção teria um resultado político razoavelmente expectável: uma legitimação do peso político e opções da Renamo e um arrefecer dos ânimos que, para os lados frelimistas, mais entusiasmados estejam numa solução castrense para as contradições políticas existentes.
No caso de uma alteração pouco relevante da abstenção, com previsível capitalização por parte do MDM, contudo, as consequências políticas são mais imprevisíveis.
A Renamo tanto pode assumir esse facto como uma demonstração de falta de apoio às suas tácticas do último ano, questionando-se e questionando a sua liderança (ou, pelo menos, o estilo da mesma), como pode, à imagem do que aconteceu em cada mau resultado eleitoral anterior, reduzi-lo a uma aldrabice eleitoral, radicalizando ainda mais a atitude.
Por sua vez, a Frelimo tanto poderá capitalizar essa vantagem enquanto trunfo para uma solução negocial da actual crise politico-militar, como poderá ver nela um sinal de irrelevância e ilegitimidade do oponente, e ser tentada a uma "solução final" pela força - com dinâmica imprevisível, mas com previsíveis consequências desastrosas para a população e para a "musculação" da frágil vivência democrática.
O MDM sairá sempre bem deste cenário. Quanto ao povo moçambicano, isso já não é certo.
segunda-feira, 11 de novembro de 2013
Rankings de exames e o exercício do pensamento
Foi também exibida uma notável reportagem televisiva, acerca das negociatas do ensino privado que ( conforme é também comum noutras áreas) verdejam à custa das benesses de dinheiros públicos, de legislação desrespeitada ou refeita à medida e do esvaziamento, por parte do estado, das condições básicas nas suas próprias instituições.
Pelo meio, foram sendo caladas (por desconhecimento ou até porque anarcamente beliscam crenças consensualizadas, acerca da justeza e benignidade intrínsecas dos sistemas de ensino) duas questõezinhas básicas, há muito salientadas pela antropologia/sociologia da educação:
1) que, para além de aquilo que a escola estimula, exige e avalia ser a capacidade quantitativa de reproduzir afirmações consideráveis como as únicas certas, tanto o privilegiar dessa competência (em detrimento de outras) quanto o objecto a que ela se aplica privegiam e impõem, enquanto critério universal de hierarquização de capacidades individuais, aquelas que são valorizadas e auto-atribuídas a grupos sociais específicos, socialmente dominantes;
2) que, mesmo com a massificação da escolaridade e o enorme alargamento do espectro social que nela investe enquanto instrumento de "mobilidade social" para os seus filhos, tanto o grau de valorização, quanto aquilo que valorizam e esperam da escola é significativamente diferente para grupos sociais diversos - e, por estensão não automática, para os indivíduos inseridos em cada um deles que são submetidos à escolarização.
Mas, para lá dessas picuinhices que nos podem pôr a reflectir acerca do que não devemos, vale também a pena saber deste estudo da Universidade do Porto, que conclui algo de contra-intuitivo, mas que de que muitíssimos professores universitários se apercebem: os alunos de colégios privados tendem a ter piores resultados no ensino superior do que aqueles que são oriundos da escola pública.
A julgar pelas áreas que me são mais próximas, aliás, os topos dos rankings são ainda mais eloquentes.
Por exemplo, os melhores alunos de sempre em antropologia e sociologia andaram na escola pública. Pelo menos um, era trabalhador-estudante. Há casos em que não poderiam pagar as propinas actuais, nem teriam legalmente direito a bolsa.
Estes dados tornam-se menos contra-intuitivos se tivermos consciência de um outro aspecto.
É que, embora também existam professores que pareçam não o ter ainda descoberto (e que, por exemplo, podem achar adequado ao seu trabalho e ao dos alunos avaliarem através de testes de cruzinha certo/errado), a Universidade não é propriamente, ou não é suposto ser, um campo de maiores dimensões, onde se joga o mesmo jogo que no Secundário.
O objectivo do jogo deixa de ser sabermos o maior número possível de afirmações proposicionais "certas" (e que só estão certas se foram aquelas), para passar a ser conseguirmos utilizar a miríade de afirmações e interpretações com que ali contactamos (muitas vezes contraditórias), na interpretação e análise de outros casos, que não aqueles que ouvimos e lemos.
Isso trás dois problemazitos:
Por um lado, é necessário desenvolvermos ou refinarmos a capacidade de analisar e criticar as afirmações e interpretações que nos são "ensinadas". E isso exige outras competências, para além das que são privilegiadas no ensino anterior - incluindo algumas que tendem a ser reprimidas, na sala de aula e na sociabilidade, naqueles espaços de lógicas educativas fadados ao sucesso nos rankings.
Por outro, se qualquer pessoa que tenha sido suficientemente bem treinada para memorizar e reproduzir afirmações proposicionais "certas" consegue terminar um curso, a excelência e treino dessa capacidade não lhe garante, por si só, mais do que resultados medianos. E quanto mais essa capacidade tenha sido a base quase exclusiva de anteriores classificações excelentes, mais difícil e traumático será compreender que as exigências são agora outras e, mais ainda, alterar a forma de trabalhar.
Justiça poética?
Não, certamente, para com os próprios alunos.