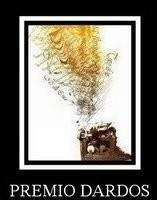Na sequência de um post do Daniel Oliveira, instalou-se uma polémica facebookiana e blogosférica, acerca dos pais que se recusam a vacinar os filhos e sobre o que fazer acerca disso.
Neste assunto, a minha posição é tão marcada por conhecimentos factuais e racionalizáveis, como por emoções e afectos.
Na verdade, um acontecimento une ambas essas coisas de forma inseparável:
Nunca vi uma criança a morrer de tosse convulsa. Mas apenas porque não fiquei lá, para ver.
Vi uma uma vez uma, perto do seu aflitivo e doloroso fim, na palhota de espíritos de uma curandeira.
O hospital tinha diagnosticado a doença e dado-lhe alta, deixando bem claro perante os pais que o resultado seria em breve a morte e que nada podiam fazer. Não sei (nem nunca tive forças para procurar apurar) se a mandaram embora para não partilharem intramuros aquela cena lancinante, para evitarem complicações burocráticas, ou por sensibilidade cultural.
Isto porque os pais foram então procurar ajuda, não para a curarem (o que sabiam ser impossível), mas para tentar minimizar a tortura que o menino atravessava e, sobretudo, para que alguém qualificado chamasse os espíritos dos defuntos da família, para o acompanharem a ele e aos vivos naquele terrível momento e, depois, protegerem e tomarem conta do seu espírito.
Mesmo estando presente apenas alguns minutos, não saberia descrever o horror daquilo que vi e, se soubesse, não o conseguiria fazer agora. Mas tudo o que de racional diga acerca do assunto será inevitavelmente marcado por essa imagem e experiência.
E no entanto...
Não é factualmente verdade que uma criança por vacinar seja um perigo para todos, ou sequer para quem decida não a vacinar.
É, sim, um perigo para ela, que não foi tida nem achada no assunto ou que, se o foi, meramente seguiu a confiança que tem nos seus pais e as informações que estes lhe transmitiram.
Não é um perigo para nós e para os nossos filhos, porque estamos protegidos do contágio dessas doenças a que ela se torna evitavelmente vulnerável.
Torna-se um duplo perigo para ela porque, para além da sua vulnerabilidade ao contágio, o sistema de saúde já não está preparado para responder a doenças consideradas erradicadas.
Ora esta é uma outra ideia factualmente errada.
Poucas doenças infecciosas, se é que existe alguma, foram de facto erradicadas.
As consideradas erradicadas estão-no apenas nos países que contam e interessam, para quem declara a sua erradicação: nos países ricos do hemisfério norte. Mesmo nestes, entretanto, a "erradicação" não quer dizer que os micro-organismos que provocam a doença não existam, mas apenas que (geralmente, em resultado da vacinação universal) não se registam casos de doença por eles provocada e, dessa forma, não é detectada a sua existência.
Por exemplo, na última década do século passado surgiu, entre as classes altas de Manhattan, um surto de uma imunodeficiência letal que era desconhecida e nada tinha a ver com a SIDA. Veio a descobrir-se que se tratava de uma doença há muito considerada erradicada, mas que era endémica em várias áreas das Antilhas, de onde eram oriundas as empregadas domésticas que essas pessoas ricas contratavam por tuta-e-meia, por serem imigrantes ilegais.
A história pode ter o seu quê de justiça poética, mas aquilo que dela nos interessa, para este assunto, é outra coisa.
É que a escolha de não vacinar crianças "porque a doença está erradicada" se baseia num pressuposto errado.
Claro está que o facto de a quase totalidade das pessoas com que a criança contacta terem sido vacinadas é um factor de segurança para ela. Mas, por um lado, muitas dessas pessoas podem pontualmente transportar a bactéria da doença sem nunca adoecerem (exactamente por terem sido imunizadas contra ela), podendo transmiti-la. Por outro, num mundo com elevada rapidez de transporte à distância, o contacto com uma pessoa infectada e doente, vinda de outras paragens, é impossível de excluir.
Face a isso, o que pode fazer quem decida não vacinar os filhos, para não estar apenas a jogar na roleta a sua saúde, vida e morte?
Estabelecer um cordão sanitário entre eles e todas as pessoas vindas de outras paragens, na sua maioria (mas nem sempre) com tons de pele diferentes? Os efeitos de uma tal xenofobia seriam socialmente arrasadores, mas nem por isso eficazes. Para que o fossem, seria necessário impedir também o contacto das crianças por vacinar com quem tivesse contactado com essas pessoas, mais com quem tivesse contactado com este último grupo, e ainda com tivesse contactado com mais estes, e por aí fora.
A única forma de tomar essa decisão sem jogar com a doença e morte dos próprios filhos seria, afinal, enfiá-los numa redoma que os afastasse de todo o contacto humano, incluindo com os pais - que, em princípio vacinados, podem também eles ser transmissores da tal bactéria a que, com isso, ficaram imunes.
Há, claro está, também a possibilidade de acreditar sem vacilações na sorte, no destino ou na vontade divina. O aborrecido é que, segundo parece, isso não é lá muito eficaz.
Portanto, «fêtes vos jeux!»
Assim sendo, impõe-se uma pergunta:
O poder de vida e morte, dos pais sobre os seus filhos, é e deve ser total?
Parece-me evidente que não. Ou, então, a violência doméstica, a violação de menores pelos progenitores ou a venda de crianças pelos pais deveriam ser discriminalizadas.
E não o é nem deve ser, antes de mais, porque as crianças são pessoas, socialmente detentoras de direitos inalienáveis, e não propriedade.
Sendo particularmente vulneráveis e dependentes, a responsabilidade da sua protecção é atribuída (por defeito e na ausência de factos graves que a ponham em causa) aos seus pais. Mas sem que o conjunto da sociedade se possa ou deva demitir (no nosso quadro social, cultural e legal) dessa responsabilidade, quando necessário.
Mas uma outra pergunta se justifica também:
E esse direito de vida e morte é e deve ser atribuído a mais alguém, por ser reconhecido (por diferentes instâncias de poder) como uma autoridade ou como um especialista?
Parece-me também evidente que não. Pelas mesmas razões e por uma outra, também ela comum: porque esse direito, por muito que tais figuras de autoridade e/ou de expertise possam ter razão e estar convictas de a ter, se basearia e legitimaria, em última instância, no nu e cru poder.
A isto acresce, claro está, o recorrente historial de abusos, incompetências, leviandade e efeitos contraproducentes que vai sendo detectado no meio das muitas decisões de autoridades acerca de crianças, mesmo que quase sempre tomadas (ou omitidas) com as melhores intenções.
Como desembaraçar, então, este nó górdio?
Não vejo soluções milagrosas, mas apenas uma aproximação paliativa, capaz de minimizar os meros abusos e o tratamento de uma das partes como completos imbecis - o que em nenhum dos casos são.
Qualquer pessoa tem o direito de, dentro do quadro de limitações que a rodeiam, decidir da sua vida e da sua morte como quiser, por muito que o faça na ausência de informação, com base em valores mais ou menos partilhados ou numa pessoalíssima idiossincrasia, ou apenas porque lhe apetece.
No entanto, quando se trata de decidir da vida, saúde ou morte de outros, as idiossincrasias, fés (religiosas ou não) e vontades não chegam. Porque, precisamente, é de outros que se trata e serão outros a sofrer as eventuais consequências da decisão que se tome.
E é exactamente porque as pessoas não podem nem devem ser menorizadas e anuladas (na decisão de cumprir ou não a largamente consensual vacinação obrigatória dos seus filhos) por autoridades políticas, administrativas ou científicas, que não o podem nem devem fazer levianamente, sem equacionarem informação contrária que possa beliscar as suas idiossincrasias e convicções - ou sem que os verdadeiros interessados (as crianças) sejam, desde que possível ao seu entendimento, também elas informados das possíveis consequências que terão para si as decisões dos seus pais e se pronunciem acerca delas.
Em suma, da mesma forma que um paciente deve ser clara e completamente informado dos perigos e possíveis consequências de um acto médico que tenha que autorizar (e dos perigos e consequências que derivam de este não ser realizado), também a decisão de não cumprir uma vacinação obrigatória dos filhos só deverá poder ser tomada depois de se ser clara e completamente informado (através dos meios considerados mais eficazes) dos factores que referi e das possíveis consequências dessa decisão.
Acresce a isso que, sendo as crianças quem poderá sofrer essas consequências, também elas devem ser informadas e participar na decisão, se o seu discernimento já o permitir.
Depois, está bem de ver, no caso de essas consequências acabarem por se concretizar, vindo a criança ou já adulto a contrair a doença evitável ou mesmo a morrer dela, a decisão livre e informada que foi antes tomada pelos pais (certamente com as melhores intenções) terá que ter consequências.
Plausivelmente, do foro criminal.