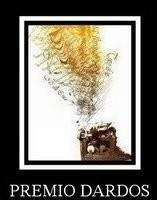terça-feira, 24 de janeiro de 2012
Escandalosa xenofobia e discriminação social
Agora, só me falta ver um porco a andar de bicicleta
Ver o FMI a sentir-se na obrigação de dizer que as políticas de austeridade não podem ser a única resposta à crise, sob pena de agravarem o problema, diz realmente muitíssimo acerca do mundo em que vivemos e dos políticos do centrão europeu...
domingo, 22 de janeiro de 2012
Unidade, unidade, unidade
Escrevia há pouco no Facebook, a propósito destas belíssimas fotos:
«Sempre belas, as fotos da Paulete Matos da manif de hoje, que achei desconfortavelmente pequenina mas honrada. Tempo, se calhar, de se assumirem algumas coisas: Que o fulcro de tudo, agora, está na destruição do arremedo de estado social e, sobretudo, no trabalho e na sua precarização generalizada - entre contratos precários e os que supostamente não o são. Que nada é viável sem tudo aquilo que junte trabalhadores "clássicos", precários, desempegados e reformados. Que todos os obstáculos que cada um de nós coloque a essa convergência são, hoje, criminosos.»
Mesmo ao correr das teclas, ficou escrito algo que me pareceu urgente tornar-se mais público.
E aqui fica.
sábado, 21 de janeiro de 2012
Come bolos-rei, piqueno...
Nem tão pouco o xico-espertismo bacôco de impôr ao país a indignidade de ter um Presidente da República não remunerado, por esse salário de sem-abrigo asilado no Palácio de Belém ficar 3 mil e tal euros abaixo das suas miseráveis reformas.
O que me espanta, de facto, é a sua capacidade de, quando pensámos que nos havia levado ao limite da possibilidade de sentirmos nojo, conseguir reactualizar em nós essa sensação, de forma ainda mais forte.
Temos que reconhecer. É um verdadeiro talento!
sexta-feira, 20 de janeiro de 2012
E esta, hem?!
Mas, que raio...! Não estar lá o Brumas e o Unipoppers também era de mais!
Olhem... Já agora, dêem lá um salto.
quinta-feira, 19 de janeiro de 2012
Foi aquele menino que mandou, s'tôra!...

Depois de o homem se desbroncar desta maneira, impõe-se que alteremos quase tudo o que pensávamos acerca da história laboral e sindical dos últimos 38 anos:
1 - Afinal, o fim da unicidade sindical, que levou o PS à Fonte Luminosa, não passou de uma maquiavélica manobra do PCP, para abrir espaço a uma segunda central sindical que fizesse o trabalhinho sujo.
2 - Quando o Maldonado Gonelha declarou como seu objectivo governativo «partir a espinha à Intersindical», estava só a reinar. Queria era fazê-la de vítima, para suscitar simpatias populares. O homem é mas é um cripto-comuna.
3 - A UGT foi engendrada nos escuros gabinetes da António Serpa, com o objectivo de assinar as coisas que os comunas não podem assim às claras, dando à CGTP-IN um ar de quem defende os trabalhadores.
4 - O João Proença (e, certamente, o Torres Couto) são, afinal, indefectíveis comunas infiltrados entre os xuxas e os laranjinhas, recebendo ordens directas do 5º andar da Soeiro Pereira Gomes.
5 - Vai-se a ver bem, os comunas é que mandam nas maçonarias e na Opus Dei. Nós é que somos uns anjinhos e não vemos.
Ou, então, a coisa pode ser vista sob outro prisma:
- Então o menino Joãozinho foi assinar uma coisa que tem estas e estas consequências?
- Mas... Foi aquele menino que mandou, s'tôra!...
O que vale é que o ridículo não mata...
Há 30 anos, o mundo parou para ela descer
E dois extras, "culpa" da Marta.
Para desanuviar da "austeridade"...
Afinal, não desanuvia. Lembra-nos que não temos cheta para lá ir...
quarta-feira, 18 de janeiro de 2012
Emprego e mentira
A questão é que a realidade não se "mete pelos olhos dentro". Cada um a entende de acordo com os quadros de interpretação e valoração que recebeu e em parte escolheu, fazendo com que o sentido de um mesmo acontecimento possa ser quase oposto para pessoas diferentes e com que o debate se torne quase impossível, por essas pessoas não estarem afinal a debater a mesma coisa, mas coisas diferentes e segundo pressupostos diferentes.
No entanto, isso não impede (a menos que estejamos em coma mental, ou sejamos incapazes de qualquer honestidade perante nós próprios e as visões do mundo que partilhamos) que a 'realidade' se possa tornar tão discrepante dos quadros de interpretação a que estamos habituados que reconheçamos o nosso erro. É, por exemplo, o que aconteceu em 2008 com o guru institucional da ausência de regulação dos mercados financeiros, ao reconhecer que a ideologia que o guiou ao longo de 18 anos à cabeça da Reserva Federal norte-americana está errada.
Tal como não impede que aquilo que dizemos acerca de um acontecimento ou decisão tenha que ser minimamente coerente com os quadros de interpretação e valoração que partilhamos. Caso contrário, ou somos mentirosos ou somos imbecis.
Vem esta divagação a propósito da entrevista televisiva do ministro da economia Santos Pereira, ontem à noite.
Afirmou ele sem rebuço que as medidas integradas no chamado Acordo de Concertação Social criavam emprego. Recusou-se em seguida a responder se esse emprego era estável ou precário, mas a questão nem é essa.
Enfiemos por momentos um carapuço de pensamento neo-liberal. E perguntemo-nos:
Como é que a possibilidade de, sem pagar por isso, fazer os empregados trabalharem 10 horas por dia durante mais de 3 meses, trabalhando menos quando não dá jeito, pode estimular a criação de emprego?
Em que é que o emprego é estimulado pela redução para metade (e sem compensação de tempo de descanso) do pagamento das horas estraordinárias que, depois disso, ainda sejam necessárias?
Ou pela passagem das horas extraordinárias durante sábados e feriados ao regime de dias úteis, deixando de ser pagas a 100% e com compensação de 100% em tempo de descanso?
Todas essas medidas estimulam e convidam, pelo contrário, à "racionalização" e "downsizing" das empresas ou, por palavras menos eufemísticas, ao despedimento dos trabalhadores que, perante este quadro, deixem de ser imprescindíveis. Pois torna-se financeiramente vantajoso fazê-lo.
Poder-se-ia até afirmar que estas medidas evitam um ainda pior desemprego, ao fornecerem às empresas vantagens que lhes permitem sobreviver sem mexerem na paupérrima qualidade de gestão que nos faz trabalhar mais e produzir menos. É muitíssimo discutível, mas seria pelo menos um argumento com alguma lógica (neo-liberal).
Mas não foi isso que foi dito.
O que Santos Pereira afirmou foi que estas medidas criavam emprego.
E, não constando que se trate de um imbecil impreparado acerca das próprias lógicas neo-liberais que perfilha (consta que é o contrário, por muito que isso possa espantar muita gente que o vê em acção política), o Ministro da Economia mentiu descarada e deliberadamente.
Porque este conjunto de medidas poderá bem ser a consubstanciação de uma "missão" que ele próprio e outros se atribuíram.
É evidentemente (tanto quanto algo o pode ser) uma tentativa de, à custa da vida dos trabalhadores e do consumo privado, minimizar a diminuição do PIB e as falência resultantes das políticas de austeridade.
Mas é também criador de desemprego, de miséria e de mais despesas estatais.
terça-feira, 17 de janeiro de 2012
Porque é que (como diz Daniel Bessa), ao pé disto, a meia-hora é uma brincadeira de crianças
 O governo, as confederações patronais e a UGT assinaram hoje aquilo a que chamaram um acordo de concertação social.
O governo, as confederações patronais e a UGT assinaram hoje aquilo a que chamaram um acordo de concertação social.
Deixando para outros o comentário às novas e mais gravosas regras para despedimento, acesso ao subsídio de desemprego e respectivo valor, pensemos um pouco naquilo que levou o economista e ex-ministro Daniel Bessa a dizer esta tarde, na televisão, que «ao pé disto, a meia-hora é uma brincadeira de crianças».
Para além do corte de 4 feriados, 3 dias de férias e de as empresas passarem a poder impor "pontes" a descontar nas férias dos trabalhadores, o filet mignon é o estabelecimento generalizado de uma "bolsa de horas" até um total de 150.
Quer isto dizer que as empresas, quando lhes convier, podem fazer os empregados trabalharem mais horas (até um total de 10 diárias), que são descontadas no horário laboral, quando lhes der jeito. Ou seja, podem obrigar-nos a trabalhar 10 horas por dia durante 75 dias úteis (mais de 3 meses) sem pagarem horas extraordinárias, mas apenas descontando esse tempo no resto do ano.
O que é que isto representa? Como, nos dias úteis, as horas suplementares são pagas a 150% (a primeira) e a 175% (as restantes), isto quer dizer que, por elas, os trabalhadores deixam de receber o equivalente a 2 semanas, 1 dia, 5 horas e 45 minutos de trabalho. Mas, como as horas extraordinárias são também compensadas (a 25%) em tempo de descanso retirado do horário normal, os trabalhadores que sejam obrigados pela empresa a esgotarem essa "bolsa de horas" vão, para além disso, ter que trabalhar mais 4 dias, 5 horas e 30 minutos sem serem pagos por isso.
Em suma, os trabalhadores passam a ter que trabalhar à borla 3 semanas, 1 dia, 3 horas e 15 minutos.
Com os tais 7 dias a mais de trabalho por ano, que já antes acompanhavam a "meia-hora por dia" que o governo queria impor, lá chegamos (com mais 3 horas e tal de trocos) ao número cabalistico-alvariano de 23 dias de trabalho não remunerado por ano que faz com que, na relação entre remuneração e tempo de trabalho, passemos a trabalhar o tempo de férias, sob outra forma.
Com a agravante, agora, de esse tempo de trabalho ser prestado quando der mais jeito ao patrão, ficando os trabalhadores (tal como em relação ao decretar de "pontes" e ao tempo de férias que virão realmente a ter) dependentes do arbítrio patronal para saberem qual o seu horário laboral e quando têm tempo para si, para as suas actividades privadas e para a sua família.
Para além de um roubo e de um abuso (pois uma coisa é negociar essa flexibilidade de horário, os seus termos e contrapartidas, e outra é ela ser imposta governamentalmente), isto é o sonho de um empresário, dir-se-á. E Daniel Bessa tê-lo-á pensado. Eu, não sei.
Sobretudo calhando esses períodos de jornadas de 10 horas, certamente, nas alturas de maior produção e intensidade de trabalho, todos os perigos que recentemente apontei à "meia-hora a mais" se tornam presentes e com ainda maior acuidade. Esses tempos de horário laboral mais extenso (sazonais, ou dependentes de flutuações de encomendas e do mercado) serão tempos de menor produção por quantidade de trabalho dispendido, de maior desperdício de matérias-primas e de mais acidentes de trabalho - com todos os seus custos para os trabalhadores, as empresas, a segurança social e o serviço nacional de saúde. Tudo à conta dessas duas horas extra, da facilidade de recorrer a elas devido à sua gratuitidade, e do cansaço - diário e acumulado - que provocarão nos trabalhadores.
Tão pouco contribuirá para aumentar o emprego (pelo contrário, mesmo no que respeita ao precário), ou para resolver os problemas económicos e empresariais de fundo. Afinal, se já agora se trabalha mais em Portugal que nos países mais ricos da UE, pagando-se muito pior a mão-de-obra, mas produzindo menos, em empresas menos competitivas, será preciso fazer um boneco? Não será evidente que (a par, nalguns sectores, dos custos de energia e outros factores de produção) o problema está na incompetência empresarial e de organização do trabalho? Nesse quadro, estas decisões não são mais do que um estímulo a que, à custa da vida dos trabalhadores, se continue a fazer mais do mesmo, agora mais barato e tornando mais fácil manter a incapacidade.
Quanto a quem trabalha e aos sindicatos, bem pode João Proença convencer-se a si próprio de que evitou o mal maior da tal famigerada meia-hora. Aliás, acredito bem (provavelmente, ao contrário da maioria dos leitores) de que ele estará convicto disso. Mas a verdade é que acabou por assinar o mesmo sob outra forma, ainda mais gravosa para os trabalhadores.
Esteve bem a CGTP ao recusar fazê-lo. Pelas razões invocadas e porque, ao bater com a porta, deixou claro que este "acordo de concertação social" não o é, mas apenas uma imposição governativa acolhida de braços abertos pelas confederações patronais e aceite sob coação pela central sindical que, de longe, é menos representativa.
Este é, afinal, um acordo de desconcertação social.
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
O medo, suicídio e eutanásia da cidadania
Acabado Dezembro, aqui vos deixo o artigo com que contribuí para o Monde Diplomatique do mês passado.

Num quadro de recessão, de precariedade, de crescente desemprego e de discursos oficiais prevendo tumultos e insegurança pública, o medo dos cidadãos não se limita a ser um sentimento capaz de refrear a sua participação em protestos e de incentivar condições laborais antes impensáveis. É também um potencial instrumento para a destruição dos mais básicos direitos de cidadania, em nome da segurança. O nosso medo pode tornar-se o nosso pior inimigo.
Há cerca de 2 meses, o Diário de Notícias divulgou partes de um relatório elaborado por dirigentes da PSP e dos serviços secretos. Em virtude das políticas de austeridade e suas consequências, os relatores previam a ocorrência dos “tumultos mais graves desde o PREC” e apontavam várias medidas a tomar. A par do reforço do treino e dos meios para contra-insurreição, tais medidas incluíam a identificação e controlo dos grupos contestatários, seus instigadores e cabecilhas – um processo que o próprio documento indicava já estar em curso.
Talvez o único pressuposto do relatório que podia merecer o acordo de especialistas que não partilhem a mentalidade policial dos seus autores fosse a consciência, por estes demonstrada, de que a actual situação social é de tal forma violenta para os cidadãos que pode vir a suscitar reacções violentas.
No entanto, esse potencial de violência não se situaria, aos olhos dos comandos policiais e de espionagem interna, na indignação, revolta e desespero de cidadãos “comuns” subitamente precarizados, empobrecidos e espoliados dos seus meios de subsistência, talvez descobrindo-se sem tecto nem comida para darem aos filhos. Para essas chefias, o potencial de violência residia, antes, em grupos que protagonizassem o protesto contra a situação criada. Por outras palavras, não procuravam a ameaça de insegurança na própria situação social; aquilo que procuravam era “inimigos internos”.
Um centramento deste tipo não constituía propriamente uma novidade, pelo menos no caso dos serviços secretos. Afinal, por diversas vezes tinham sido denunciadas escutas e tentativas de infiltração em sindicatos e mesmo partidos políticos com representação parlamentar, que assim eram tratados como inimigos do Estado. Não obstante, a sua reafirmação num relatório que pretendia estabelecer doutrina e era partilhado por comandos policiais suscitava justificadas preocupações.
Confirmava, por um lado, que os comandos dos serviços policiais e de espionagem interna vêem a sua missão de uma forma que não corresponde, em sentido estrito, à defesa dos cidadãos e da segurança pública que lhes está legalmente atribuída. Em vez disso, parecem assumir que lhes cabe defender as políticas governativas e os governos contra quem se lhes oponha, com isso assumindo como objecto legítimo da sua intervenção as expressões públicas de contestação e oposição a tais políticas, mesmo que elas se desenrolem dentro dos quadros de direitos, liberdades e garantias consignados legalmente.
A justificação para essa peculiar atitude residiria, neste caso, na violência prevista pelas hierarquias dos organismos de segurança. Mas, não existindo experiência recente de protesto violento por parte dos sindicatos e partidos políticos da oposição, o “inimigo interno” (que postulam existir) terá agora que ser procurado, à falta de melhor, entre os cidadãos que participam em voláteis e inorgânicas plataformas como aquelas que organizaram as manifestações de 12 de Março e de 15 de Outubro, ou entre os pouco relevantes grupos ou indivíduos que expressem o seu apoio a protestos violentos, mesmo que em conversas de café.
«Espiões à rasca»
Esta curiosa situação de “espiões à rasca”, por não terem propriamente organizações a quem espiar, sugere que as acções de “identificação e controlo” já assumidamente em curso (de forma ilegal, visto não existir base possível para que estejam a ser legitimadas por mandatos judiciais) versam cidadãos que se tornam suspeitos aos olhos dos órgãos policiais e de espionagem pelo facto de, precisamente, exercerem os seus direitos de cidadania.
Contudo, baseando-se esses abusos no pressuposto da violência futura, a realidade e o carácter organizado desta têm que ser enfatizados e aceites pelos cidadãos, para que os abusos sobre os seus próprios direitos (escutas, controlos de movimentos, violações de privacidade, escrutínio injustificado dos seus actos e opiniões) possam ser tolerados.
Dessa forma, cria-se um perigoso caldo de cultura política e social que, tudo indica, já estaremos a viver. Com o intuito de controlar eventuais protestos violentos, atemorizam-se os cidadãos com a iminência do caos, que só será evitável através de abusos sobre os seus direitos, por parte dos especialistas em segurança. Sub-repticiamente, somos colocados perante a troca de parte da nossa liberdade por um possível reforço da nossa segurança – uma troca que, segundo Benjamim Franklin, só é adequada a quem não mereça nem uma coisa nem outra.
Fazer acontecer o que se teme
Este processo parece ter sofrido um desenvolvimento lógico, mas algo descarado, durante a greve geral do passado dia 24 de Novembro.
Conforme os meios de comunicação social profusamente se fizeram eco, houve ao fim do dia um incidente frente à Assembleia da República, quando participantes na manifestação convocada pela plataforma que organizara a iniciativa de 15 de Outubro tentaram ocupar as escadarias exteriores do parlamento. As forças policiais retomaram violentamente o espaço, foram feitas algumas detenções, e esse pouco relevante acontecimento parecia encerrado.
No entanto, depressa se verificou que os manifestantes mais incitadores e entusiastas da ocupação da escadaria voltavam depois a ser vistos, fotografados e filmados a efectuar detenções ou a conferenciar com os colegas fardados. Nas imediações do local, grupos de outros jovens um pouco serôdios mas cuidadosamente vestidos “à revolucionário” eram também vistos e filmados a prender manifestantes, por vezes com rara violência e recurso a equipamento proibido.
Em suma, esse acontecimento veio mostrar que a preocupação com tumultos que é partilhada pelas direcções policiais e de espionagem não se limita a encontrar vazão na detecção e controlo de “inimigos internos” suspeitos de poderem vir a ser violentos. Tudo indica que, na ausência de tumultos espontâneos, as próprias forças policiais ou elementos seus acharam por bem providenciá-los, dando razão às suas expectativas e ao difuso temor popular.
A par disso, o mesmo jornal que havia dado a conhecer o preocupado relatório que comecei por comentar escolheu para manchete, no dia seguinte a uma greve geral de grande impacto, o peculiar título “Polícia teme mais conflitos após incidentes na greve”.
É verdade que, nos acontecimentos e processos complexos, não podemos descartar à partida a possibilidade de coincidências, ou sequer o papel que a ingenuidade (jornalística ou outra) possa eventualmente desempenhar. Mas seria necessária, por sua vez, uma razoável dose de ingenuidade da nossa parte para que partíssemos do princípio de que estamos, simplesmente, perante uma cadeia de acasos e uma mera confluência de idiossincrasias corporativas.
No seu conjunto, estes três acontecimentos e a forma como foram divulgados sugerem antes que - trate-se ou não de uma estratégia deliberada, e tenham ou não os seus actores plena consciência disso – vivemos um momento de potenciais abusos sobre os nossos direitos de cidadania mais elementares, cometidos e legitimados em nome da nossa protecção contra a insegurança pública, que por sua vez nos é repetidamente apresentada como uma ameaça que devemos temer. Nessa linha de ideias, deveríamos, não apenas submeter-nos a tais abusos, mas concordar com eles.
O medo, nosso inimigo
Em si mesma, a manipulação do medo como instrumento político nada tem de original. É, aliás, quase um truísmo afirmar que o medo (seja pela nossa integridade física, seja de perdermos algo que consideremos importante) é um dos elementos centrais de qualquer relação de poder.
Tão pouco será original a manipulação do medo da insegurança, para convencer os cidadãos a prescindirem dos seus direitos (primeiro, em relação aos supostos agentes do perigo, depois, em relação a si próprios), em benefício da sua protecção.
É, pelo menos, já suficientemente relevante no séc. XVIII para justificar a tal frase de Benjamim Franklin, tantas vezes citada. Mas torna-se, talvez, ainda mais relevante na nossa época, que surge marcada por um particular centramento na questão da segurança. É um bom exemplo disso a velocidade com que, mal Ulrich Beck cunhou essa expressão, se espalhou a crença de que nos países capitalistas desenvolvidos vivemos na “sociedade do risco”. Ao aceitar e repetir essa ideia, contudo, não o fazemos no sentido que lhe atribuiu esse autor (o de vivermos em sociedades que produzem ininterruptamente riscos tecnológicos incontroláveis e de consequências imprevisíveis), mas julgamos viver nas sociedades mais perigosas de sempre. Isto, mesmo se é difícil apontar, noutros locais do globo ou momentos da história, sociedades onde os seres humanos tenham estado mais salvaguardados da violência aleatória, da fome, da doença, de acidentes trágicos e de outros perigos mortais ou muito graves.
Talvez não seja, por isso, surpreendente que a utilização do medo para restringir direitos - embora bem mais antiga – tenha atingido níveis extremos de eficácia na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001. Nesse caso, perante um ataque terrorista traumático e perante a repetida enfatização de que ele era apenas a ponta de um icebergue de ameaça permanente e generalizada, uma sociedade retoricamente muito ciosa dos seus direitos individuais não se limitou a tolerar que eles fossem pontualmente desrespeitados, nos casos em que estivessem em causa assustadores suspeitos de terrorismo. Aprovou e apoiou convictamente, através do Patriot Act, a instauração de um estado de excepção em que qualquer suspeita por parte das autoridades policiais permite, arbitrária mas legalmente, retirar a um cidadão os mais importantes direitos, garantias e formas de protecção de que este goza.
Aquilo que esperam de nós é algo de semelhante, embora por certo mais moderado, em virtude da enorme discrepância entre os perigos que alegadamente ameaçam quem vive de um lado e do outro do Atlântico. Mas, afinal, se tolerámos que cidadãos europeus fossem impedidos de entrar no país devido ao crime de trazerem consigo panfletos pouco agradáveis para a NATO ou as forças policiais, porque razão não deveremos, a bem da nossa segurança nas ruas, aceitar que as pessoas suspeitas de poderem querer ser violentas sejam ilegalmente esquadrinhadas, ou que o mesmo nos aconteça a nós, caso o nosso desagrado também nos torne suspeitos? Não se justificará esse preço, para que possamos ser protegidos do terrível caos dos “tumultos mais graves desde o PREC”?
Aquilo que se espera de nós, afinal, é que esqueçamos a frase de Steve Biko que lapidarmente concentrou páginas e páginas de Gramsci: “A mais poderosa arma nas mãos do opressor é a mente do oprimido.”
Porque, uma vez dado esse passo, uma vez tolerado o desrespeito pelos direitos de cidadania dos outros, por eles parecerem (às 'autoridades competentes') suspeitos de poderem colocar em risco a ordem pública, tudo se simplifica. Rápida e facilmente acharemos normal que, quando nos assustam, percamos as nossas liberdades individuais. Os nossos direitos serão coisas para tempos normais; e os tempos de excepção serão de cada vez que nos convençam disso.
O nosso medo de tumultos e insegurança, solicitamente instigado por quem de direito, tornar-se-á o instrumento do suicídio da nossa cidadania.
Por isso, a intolerância para com abusos sobre os direitos de cidadania é, hoje, mais necessária do que nunca.