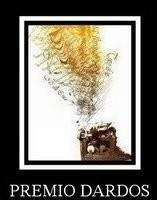quarta-feira, 29 de setembro de 2010
Os velhos temas antropológicos ainda entusiasmam a malta
... sobretudo quando são abordados de formas novas.
Aqui pelo Antropocoiso, os visitantes não são muito de comentar. Mas não é esse, de todo, o caso num outro blog em que afixo umas coisas, o 5 dias.
Por lá, reproduzi os dois artigos que tinha escrito para jornais moçambicanos e que também aqui afixei, nos posts abaixo.
Em dois dias, aquele que analisa os acontecimentos de 1 e 2 de Setembro a partir de conversas e observações no "caniço", apresentando teses que foram repegadas por vários analistas moçambicanos, não recbeu comentários.
Desde ontem à noite, o outro artigo, que aborda a devolução de bens alimentares saqueados e o papel que a feitiçaria e a moralidade tiveram nesse fenómeno, vai sendo comentado em profusão e com interesse.
É curioso. Mas bom.
Os fenómenos políticos e económicos são, em parte muito relevante, também feitos de simbólico - e é bom que isso interesse a malta, pois serão melhor compreendidos.
Mas lembremo-nos que não é só por lá que isso é verdade. É bom que comecemos a olhar também Portugal sob esse prisma.
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Saques, feitiço e ética
Por toda a cidade se multiplicam as histórias que justificam esse acto inesperado. No Trevo, uma família terá sido acometida de fortes dores de barriga após comer desse arroz. No Benfica, terá saltado de um saco um rato que não era cinzento nem castanho, mas preto. Em Magoanine, conta-se de arroz que jorrava para fora da panela, ao ser cozinhado. Em Maxaquene, haverá quem tenha encontrado uma cobra ao abrir o saco, ou apenas cobras e nenhum arroz. Em vários pontos da cidade, gatos pretos pertencentes a esses comerciantes foram vistos a rondar as casas de quem os tinha saqueado.
É simples (tão simples que talvez se torne simplista) encarar este movimento colectivo de devolução de bens saqueados e as histórias que lhe estão associadas como um resultado exclusivo de medo da feitiçaria.
De facto, ao longo de todo o país, a propriedade é protegida por meios mágicos. Circulando pelas estradas, quantas vezes nos cruzamos com bancas de produtos à venda, cujo dono não se vislumbra? No entanto, nada dali é roubado – porque o dono “tratou” a banca contra roubo e, sobretudo, porque os potenciais ladrões acreditam na eficácia desse tratamento, não se arriscando a sofrer as consequências.
Também em Maputo, seria surpreendente (pelo menos, para o ‘cidadão comum’ dos bairros populares) que alguém no seu perfeito juízo abrisse um estabelecimento comercial sem ter encomendado um tratamento para atrair clientes e outro para evitar e punir roubos. Tinyanga das mais diversas origens retiram, aliás, uma parte apreciável dos seus rendimentos desses serviços de protecção a lojas, barracas, automóveis ou casas de habitação – embora também estejam habilitados a fornecer serviços de camuflagem mágica àqueles que pretendem roubar, seja na rua, seja em empresas ou instituições.
Mas, nestas coisas de protecção da propriedade, os estrangeiros são, por assim dizer, ‘jogadores de outra liga’. Os de origem europeia serão mais vulneráveis, por terem a mania de “não acreditar nessas coisas” e, por isso, não se precaverem. Já os de origem africana serão mais perigosos do que os nacionais, por se esperar que tragam consigo protecções e feitiços bem poderosos e, sobretudo, desconhecidos aqui – não se sabendo, por isso, que efeitos podem ter e como os neutralizar. Os próprios negociantes dos contentores-cantina fazem, aliás, gala em insinuar a confiança que sentem na protecção de que dispõem.
Assim, é perfeitamente compreensível que, após um acto de saque executado no calor e efervescência dos acontecimentos, acabem por chegar a apreensão e o medo acerca do mal que aqueles produtos roubados nos podem vir a fazer. E que, quando se oiça uma história como as que referi no início deste artigo, a apreensão se reforce e confirme, tornando bem mais seguro devolver do que consumir, por muita falta que aquele arroz nos faça.
Contudo, a minha experiência profissional faz-me suspeitar que, embora isto seja verdade, não é toda a verdade.
São duas as principais razões que me fazem pensar assim.
Por um lado, e embora a gravidade do que aqui aconteceu fosse muitíssimo menor, o carácter selectivo dos saques a contentores-cantina (atingindo africanos estrangeiros, mas poupando os moçambicanos que exercem a mesma actividade ao seu lado) trouxe à memória, de forma demasiado clara e intensa, um acontecimento recente que foi colectivamente traumático: os ataques xenófobos de que moçambicanos e outros estrangeiros foram vítimas na África do Sul, em 2008.
Para aquilatarmos o impacto social do que então sucedeu, bastará recordarmos – para além dos comentários de surpresa e indignação que se ouviam um pouco por todo o lado – que a onda de linchamentos periurbanos que vinha em crescendo desde finais de 2007 praticamente parou, só vindo a reaparecer muitos meses depois, quando se tornou público que altos dignitários do ministério do interior estavam acusados do roubo de bens públicos. E, para vermos como se tornou rapidamente claro para as pessoas esse desconfortável paralelo entre o que acontecera em Maputo e os anteriores ataques na África do Sul, bastará lembrar que um dos primeiros boatos populares acerca dos saques (que não ‘pegou’ e se deixou de ouvir) os atribuía, contra todas as evidências, às pessoas que tinham sido obrigadas a fugir da África do Sul em 2008 e não tinham conseguido refazer a sua vida.
Ou seja, parece que o difuso desagrado popular para com o sucesso e alegada arrogância dos chamados “nigerianos”, que foi expresso nos saques que sofreram, foi contrabalançado, passada a acção ‘a quente’, pelo desconforto moral de se ter feito para com eles uma coisa semelhante (embora bem menos violenta e grave) àquela que, chocante e traumaticamente, compatriotas haviam sofrido na África do Sul, por serem lá estrangeiros.
Mas, conforme referi, parece-me haver ainda uma outra razão envolvida nas devoluções de bens alimentares saqueados no início do mês.
É que não foi apenas nos mass media que os saques foram condenados, independentemente de quem os censurava poder até ser compreensivo ou mesmo entusiástico em relação às outras acções da “greve”. Também nos bairros (onde, conforme referi neste jornal a semana passada, as barricadas de pneus são assumidas como uma acção de todos mesmo por quem não participou nelas) os saques foram objecto de reprovação, embora mais tolerante quando se tratou de armazéns de grandes empresas, em vez de pequenos comerciantes.
Em parte, essa reprovação pode ter um carácter geral, independentemente de quem foi saqueado. Trata-se como que de uma mancha que veio poluir uma expressão de protesto com que essas pessoas concordam.
Mas a desaprovação pode também reforçar-se em função de quem é roubado. Tal como tende a existir tolerância, apesar do desagrado, para com os actos do “cabrito” que “come onde está amarrado”, ela também existe para com outros roubos, particularmente quando incidem sobre pessoas e entidades empregadoras. Neste caso, eles podem até ser olhados como um complemento que repõe alguma justiça num salário injusto. Pelo contrário, quem é linchado são pobres que (real ou supostamente) roubaram pobres.
Face a esta duplicidade de critérios morais (ou, se preferirmos, a esta adaptação da moralidade às posições sociais), os comerciantes de contentor estão numa posição ambígua. São considerados ricos em comparação com as pessoas a quem vendem, mas sabe-se que são pobres em comparação com os ‘verdadeiros’ ricos; ademais, mesmo quando estrangeiros, têm um estilo de vida semelhante ao dos seus clientes – ou seja, não são “mulungos de pele preta”, ao contrário dos habitantes das mansões, das vivendas e dos bons apartamentos. Por outras palavras, são suficientemente ricos e diferentes para serem pilhados no calor da revolta, mas nem eram aqueles ‘ricos’ o alvo do protesto, nem são suficientemente ricos para que o roubo possa, depois, ser visto como legítimo e aceitável.
Dessa forma, parece-me tão normal que estes saques tenham suscitado medo da feitiçaria como que tenham suscitado um duplo desconforto moral, reforçado pela implícita ou explícita reprovação dos vizinhos que não participaram neles: o desconforto com os seus paralelismos com acontecimentos xenófobos traumáticos e o desconforto com a pouca legitimidade daquele roubo, àquelas pessoas.
A apreensão popular para com o poder dos feitiços protectores (e legítimos) desses comerciantes estrangeiros já existia, muito antes de 1 de Setembro.
Sugiro contudo que, mais do que A razão para devolver os produtos saqueados (que, no caso de muitas pessoas, pode bem ter sido), o medo de efeitos mágicos foi, sobretudo, uma linguagem disponível e pertinente para expressar esse duplo desconforto moral e uma óptima justificação para lhe pôr cobro.
Não digo que as pessoas não acreditem nas histórias que relatei no início deste artigo. Digo que acreditaram de forma tão rápida e generalizada, e fizeram o que era racional fazer a partir do momento em que acreditaram (devolver os produtos), porque isso confluía com o dilema que tinham entre mãos e lhes permitia resolvê-lo.
O que, confesso, me agrada.
Babalaze* da "Greve"
* ressaca
Para alguém que tenha chegado a Maputo para realizar uma pesquisa há muito agendada, parece que nenhum outro assunto interessa às pessoas com quem se vai encontrando neste e naquele bairro, senão a “greve” (ou “manifestação”, ou “distúrbios”, ou “revolta”, ou “vandalismo”, ou “levantamento popular” – escolha o leitor) de 1 e 2 de Setembro.
E o que vai aprendendo um visitante crónico que assim se desloca pelo “caniço” do Grande Maputo em tempos de babalaze desses acontecimentos marcantes?
Antes de mais, que os participantes mais activos na “greve” (aquelas pessoas que de facto queimaram pneus, lançaram pedras, confrontaram a polícia ou, mesmo, pilharam cantinas-contentor) não têm nada de especial. Muitos jovens, como é normal pela demografia, pela energia necessária para tais confrontos, pela escola que nesses dias não houve e pelo desemprego “formal” que, no entanto, lhes exige biscates e vendas para contribuírem para a subsistência familiar. Muitas mulheres, sobretudo dessas donas de casa que também têm que inventar o que podem para pôr comida na mesa. Mas também muitos homens adultos, talvez mais discretos quando se generalizaram os tiros e mortes.
Não foram os mais miseráveis, que morrem de fome e não têm onde se abrigar. Não foram os assaltantes das esquinas escuras. Foram pessoas que, tal como a esmagadora maioria dos maputenses, têm que mobilizar e inventar todos os recursos possíveis, “formais” e “informais” e envolvendo todos os membros da família que o consigam, para garantir que têm quase sempre comida e os restantes bens de consumo essenciais no espaço urbano. E que vivem na permanente insegurança sobre se isso será possível lá para o fim do mês, na semana que vem, ou amanhã.
Foram pessoas tão normais, e tão sentidas pelos vizinhos como representativas da comunidade e dos seus sentimentos e preocupações, que mesmo quem estava fora do bairro nunca usa a palavra “eles”, para referir o que lá foi feito e quem o fez. Homens que se dirigiram ao emprego a horas em que ainda parecia que nada iria acontecer, mulheres que ficaram a tomar conta de crianças pequenas, pessoas idosas que ficaram em casa, todos eles dizem «nós queimámos», «nós bloqueámos», «nós fugimos quando a polícia disparou».
Também por isso, a indignação que persiste em relação aos epítetos insultuosos lançados pelo ministro do interior, ou mesmo ao discurso da produtividade e trabalho que o governo manteve até a segunda-feira seguinte. «Trabalhar mais? Mas onde?», ouvi repetidas vezes. «Se não tem emprego, tem que trabalhar muito para fazer uma quinhenta. Mais que esses folgados!», insurgiam-se outros, qual “improdutivos” do século XXI.
Todos temos consciência de que, se estas pessoas são “não-empregáveis” conforme ouvi um economista afirmar, não é porque não o queiram ou porque (como está na moda dizer em economês) tenham um deficit de capacidades; é porque não há emprego disponível em quantidade, independentemente das qualificações exigidas, nesta economia a duas velocidades que se vive na cidade de Maputo. E, para serem “empreendedoras” (mais do que já são para subsistirem) e “criadoras de riqueza e emprego”, teriam que dispor de algum do capital que sobra àqueles que se orgulham de o ser. Mas, olhadas as pessoas “de cima” e embrulhadas nos lugares-comuns que se repetem nos fóruns internacionais, estas evidências que todos conhecem acerca da realidade peri-urbana local parecem fáceis de esquecer…
No entanto, tais atitudes e retórica sobranceira, quando não insultuosa, tiveram o condão de reforçar o sentimento que – ao que tudo indica – constituiu uma mola essencial para transformar insegurança e descontentamento em revolta violenta, agora e em 5 de Fevereiro de 2008.
Escrevi no passado dia 2, num depoimento para um jornal português que o Canal de Moçambique teve a simpatia de transcrever a semana passada, que as pessoas que agora se manifestaram não estão apenas descontentes com as suas dificuldades económicas e os aumentos de preços. Também (ou sobretudo) indignam-se por sentirem que a sua situação e dificuldades não interessam a “quem manda” – afinal, que elas são irrelevantes para os poderosos.
O que as indigna (e contra que protestaram) não é apenas a decisão política de aumentar preços que põem a sua subsistência em risco; é uma forma de exercício do poder em que, sentem, foram abandonadas e não têm como ser ouvidas; é o que consideram ser uma quebra do dever básico de quem governa: o de, independentemente de tirar proveito da sua posição, garantir aos governados um mínimo básico de bem-estar e condições de subsistência.
Tenho podido confirmar que assim é – estejam as pessoas a ser justas ou injustas nesta apreciação que fazem das elites políticas. Mas, assim sendo, o evitamento de novos Setembros e Fevereiros não se pode reduzir à tomada de medidas económicas.
Claro que, na sua raiz, a resolução do problema estaria em garantir às pessoas condições materiais de vida dignas, estáveis e previsíveis. Mas, num país em que o crescimento económico reflectido pelas estatísticas se traduz (devido ao modelo adoptado e à forma absoluta como é interpretado) em aumento das assimetrias sociais e, segundo dados recentes, em aumento da pobreza, não basta que a economia cresça para que esse objectivo de bem-estar social seja alcançado. Aliás, mesmo que isso fosse possível, sê-lo-ia num tempo tão longínquo que, tal como o horizonte, pareceria afastar-se à medida que dele nos aproximássemos.
Parece então evidente que, para resolver o problema e o potencial de violência que ele provoca, não basta esperar pela acção do mercado (que tem alargado o desemprego e as dificuldades dos mais pobres), pela construção da “burguesia nacional” (que pouco investe em actividades produtivas, mas no comércio e serviços), ou dos dinheiros internacionais (que tenderão a diminuir a curto prazo, dadas as dificuldades, bem diferentes destas, que enfrentam os próprios “países doadores”).
Talvez seja hora de nos lembrarmos que, nesses países com velhas e sólidas economias de mercado de onde vêm os teorizadores do absoluto liberalismo, há preços subsidiados. E isso não acontece por altruísmo dos ricos e governantes, mas por muito boas razões de gestão política e económica, por vezes impostas por lutas sociais e distúrbios bem mais graves e continuados do que estes de 2008 e 2010.
No entanto, se as medidas desse tipo surgem como incontornáveis e da mais elementar justiça face à situação da maioria da população urbana, elas constituem apenas paliativos socio-económicos. Diminuem a febre ou as dores, mas não curam.
Com toda a modéstia de quem fala de um país que não é o seu, permitam-me sugerir que há duas outras mudanças necessárias se, a partir do quadro presente, se quiser quebrar o processo de repetição de greves que já se iniciou e garantir a paz social.
Por um lado (e para além do efectivo “mudar da agulha” dos capitais e políticas económicas para as actividades produtivas, de que já se fala), resolver as razões económicas da violência popular passará por repensar e alterar o modelo de distribuição da riqueza, tornando-o menos chocantemente assimétrico e concentrando políticas redistributivas nos bens e serviços de primeira necessidade.
Por outro, também a questão política é crucial, quer em termos de práticas, quer de imagem. Superar a visão popular de que se governa sem considerar o povo e engordando à custa da sua fome não implica apenas a tomada de medidas que a contradigam. Implica também que essas medidas não sejam tomadas “para o povo” mas em diálogo “com o povo” e implica ainda que uma cultura política de consulta e participação (afinal, muito “tradicionalmente” africana e muito “tradicionalmente” frelimista, noutros tempos) seja instaurada, alimentada e estimulada.
Sem essas duas mudanças, temo bem, os já marcados fossos entre governantes e governados, e entre os pobres e os restantes, não cessarão de aumentar.
E, não se vendo, a partir do “caniço”, formas de canalizar eficientemente as suas queixas e reclamações, estas continuarão, ciclicamente, a ser expressas na rua.
PS: A distinção entre "para o povo" e "com o povo", que de forma eloquente e sintética expressa o que penso acerca do assunto, foi por mim ouvida numa intervenção pública de Carlos Serra. aqui fica a devida vénia.
Cartas de Maputo
Por coincidência (em que os meus amigos curandeiros não acreditam), os serviços do meu Instituto repararam que a minha viagem de pesquisa agendada para dia 30 de Agosto saía 400 euros mais cara (!) do que voasse antes no dia 4 de Setembro.
Por essa razão, e mudado o bilhete, fui poupado chegar em pleno tumulto e passar a noite no aeroporto.
Mas, chegado lá, os dois temas que ía estudar até que não interessavam muito, de momento, às pessoas com quem ía falar.
Conversa, mesmo, era o 1 e 2 de Setembro.
Aqui vos deixarei nota, através de 2 artigos que me foram pedidos por jornais moçambicanos, do que por lá se passa depois dessas datas.
Mais coisas se seguirão, talvez, nos próximos dias.
quinta-feira, 2 de setembro de 2010
Tristeza e perplexidade
Será arrogância?
Será inconsciência?
Será efeito dos insultos desconsideradores com que, na televisão, líderes partidários e governativos apodam a população que protesta, mesmo que de forma incorrecta?
O drama dos 4.000 caracteres e dramas bem mais sérios
Embora me considere razoavelmente sintético, foi esta a resposta que descobri ontem, ao escrever este artigo de opinião para o jornal Público.
Espero que, apesar disso, seja útil a quem o leia.
Mas aconselho-vos, mesmo, mesmo, é a ler esta impressionante reportagem, feita por João Vaz de Almada na zona onde faço uma boa parte do meu trabalho, quando vou a Maputo.
Claro que o artigo principal, da Sofia Lorena, também merece bem o tempo que passem a lê-lo.
PS: Parece que o artigo deixou de estar em acesso livre. Aqui fica ele.
A RAZÃO E O SENTIDO DE DOIS MOTINS
Tal como em 5 de Fevereiro de 2008, Maputo viveu ontem um dia de barricadas de pneus ardendo nas ruas, pedradas a carros e montras, populares mortos pelas balas das forças policiais.
Também como nesse Fevereiro, o motim foi convocado em rede por SMS e boca-a-ouvido, alastrando em bola de neve de um bairro popular a outro, à medida que o fumo das barricadas vizinhas ia sendo avistado.
Como em 2008, o móbil imediato dos protestos foi a brusca subida de preços. Então, dos “chapas”, periclitantes carrinhas que servem de transporte público à esmagadora maioria. Agora, da água, electricidade, pão e arroz – sua base alimentar.
Em ambos os casos, ainda, os aumentos ameaçam as próprias perspectivas de subsistência de uma população que precisa de toda a sua criatividade e desenrascanso para, simplesmente, se manter no fio da navalha. Mas, para esses pobres, mais irritante ainda que os aumentos foi – em 2008 e, muito provavelmente, agora – verem neles uma desconsideração, por parte de quem decide, para com as suas dificuldades e necessidades mais elementares.
Moçambique passou, com o fim da guerra civil, de um regime socializante e paternalista para uma política ultra-liberal que trouxe o aumento do desemprego e das elites económicas, coincidentes ou ligadas às elites políticas. Trouxe também a erosão do controle local da população através de instituições partidário-estatais que, se podiam cometer abusos, também podiam canalizar as necessidades e reclamações populares.
O sentimento que hoje grassa nos bairros populares do Grande Maputo é o de uma incerteza global quanto ao futuro e à própria subsistência e, face ao poder político, a sensação de que as suas dificuldades se tornaram irrelevantes para os poderosos e de que não existem canais por onde as suas necessidades e protestos possam ser canalizadas de forma eficaz.
Esta situação e visão permitem que motins como o de ontem possam ser sentidos como a única forma válida de protesto. E que possam ocorrer sempre que uma nova medida política ameace a sua subsistência, enquanto vêem desfilar perante si o que consideram ostentações de riqueza e desigualdade.
Não quer isto dizer que quem protesta violentamente pretenda pôr em causa o governo ou o partido que o ocupa desde a independência.
Maputo é um baluarte eleitoral da Frelimo e a maioria dos manifestantes de ontem terão votado nela o ano passado.
Só que a visão dos direitos e deveres entre governantes e governados predominante nesses bairros populares não coincide com o hábito europeu (e das elites políticas locais) de aceitar que basta a um governo legítimo tomar decisões legais para que também elas sejam legítimas.
Estas pessoas consideram, antes, que o poder instituído não deve ser ameaçado mas, em contrapartida, tem que garantir o essencial de bem-estar e dignidade às pessoas que governa. O governante pode «comer mais», mas não «comer sozinho», à custa da fome dos outros. Assim, por muito que o poder seja considerado legítimo, uma sua decisão pode ser ilegítima, se quebrar esse dever.
Ou seja, os amotinados de ontem (tal como os de 2008) protestavam contra uma decisão política concreta e protestavam contra a forma como o poder político é exercido. Afinal, protestavam contra aquilo que consideram uma quebra do “contrato social” que estabelecem com o poder instituído a que se submetem. Uma quebra que, com a repetição de motins no essencial iguais, afirmam já não tolerar.
Claro que, a cada novo motim bem sucedido (e o de 2008 era um claro motivo de orgulho e auto-estima nos bairros pobres), mais se reforça a imagem popular de que essa é a única forma eficaz de protesto.
O que coloca o governo moçambicano perante um difícil dilema.
Ou não cede às reclamações e aumenta exponencialmente a repressão policial, arriscando o apoio financeiro internacional de que depende, ou se torna mais “tradicionalmente” africano, considerador e dialogante, fragilizando com isso as suas práticas mais autoritárias e os actuais padrões de concentração de riqueza.
quarta-feira, 1 de setembro de 2010
Novos motins em Maputo e Maria Antonieta na costa do Índico
Maputo acordou hoje em "greve" - a expressão que, desde Fevereiro de 2008, é por lá usada para referir revoltas que bloqueiam as ruas com pneus a arder e pedradas a carros e outros símbolos de propriedade, a que a polícia responde a tiro.
Pelas informações que vão chegando, a dinâmica está a ser muito semelhante a esses motins de 5 de Fevereiro de 2008, cuja descrição e análise - que na altura escrevi em directo de Maputo - podem ver neste conjunto de posts.
Na altura, a justificação imediata que mobilizou as pessoas teve a ver com o aumento abrupto dos "chapas", as carrinhas de 9 lugares recondicionadas para transportarem 19, que são o meio de transporte a que têm acesso as camadas populares.
Desta vez, trata-se de uma sucessão de aumentos de bens de primeira necessidade, cujo corolário é uma anunciada forte subida do preço do pão.
Tal como em 2008, contudo, penso que a principal motivação das pessoas não é apenas os aumentos em si próprios (aspecto que nem por isso se torna menos relevante, e é uma machadada na sua tentativa de sobrevivência sempre precária), mas o sentimento de que eles são decididos pelo poder político sem consideração pelas necessidades e dificuldades da população.
E dificilmente algo poderá reforçar mais esse sentimento do que declarações como as de um representante governativo, esta manhã na rádio, aconselhando os ouvintes que se queixavam do aumento do pão a substituírem-no por outros produtos, «como a batata doce».
No entanto - e tal como acontece com os linchamentos urbanos em Moçambique - penso que aquilo que está em causa, para quem participa, não são tanto cada um dos problemas e ameaças concretas e identificáveis com que se confrontam (o pequeno ladrão, o aumento de cada bem essencial), mas uma situação generalizada de incerteza quanto ao futuro e à própria subsistência, num quadro em que sentem que ninguém os ouve, que não têm qualquer controlo sobre o seu futuro e que, quer eles quer as suas dificuldades, são considerados irrelevantes pelos poderosos que decidem.
Mas que não se leiam estes acontecimentos, apressadamente, como uma revolta para pôr em causa o governo da Frelimo - mesmo se este passou, ao longo das décadas e fundamentalmente com as mesmas pessoas, de um projecto socializante e paternalista para a aplicação de políticas ultra-liberais.
Por um lado, apesar de uma franca e crescente simpatia popular pelo MDM de Deviz Simango, Maputo é um forte bastião eleitoral da Frelimo e a maioria das pessoas que se estão a manifestar nas ruas terão votado nela no ano passado.
Por outro, as pessoas dos bairros populares (a esmagadora maioria) têm uma visão dos direitos e deveres dos governantes e governados que é diferente daquela que nós (e as elites políticas moçambicanas) costumamos atribuir à democracia representativa.
Conforme aprofundei aqui, essa visão mais "tradicional" e "africana" do poder não pressupõe que, uma vez legitimado um governo, as decisões que tome sejam legítimas, desde que legais e tomadas dentro do seu quadro de competências reconhecidas.
A sua visão do "contrato social" sustenta-se, pelo contrário, em dois pilares aparentemente contraditórios, mas que deverão estar minimamente equilibrados: pressupõem, por um lado, que só em casos extremos deverá ser posto em causa o poder instituído; mas pressupõem, também e em contrapartida, que quem ocupe esse poder tem a obrigação de salvaguardar um mínimo de bem-estar e de dignidade das pessoas que governa. Pode (e tem o direito de) «comer mais», mas não de «comer sozinho» e à custa da fome dos outros.
Isto quer dizer que, por muito que um determinado poder instituído seja considerado legítimo, cada uma das suas decisões é objecto de escrutínio - e podem ser consideradas ilegítimas e merecedoras de protesto e resistência, sem que isso ponha em causa a legitimidade do próprio poder.
Continua a admirar-me como é que algo tão evidente e estrutural ao pensamento e comportamento político da população "comum" continua a ser ignorado (quanto mais a ser levado em conta) pelas elites políticas locais.
Vou continuar a acompanhar, à distância, estes acontecimentos.
Sugiro que quem também esteja interessado em saber em cima da hora o que se está a passar vá regularmente ao blog do meu colega Carlos Serra, em permanente actualização.
*****
Entradas mais recentes nesse blog:
«Adenda 18 às 12: 28: comentário que me foi enviado via email: "Falei com os polícias da PRM e da PIR que estavam na praça da OMM e prolongamentos da Vladimir Lenine: afirmaram que não receberam meios anti-motim, nem balas de borracha nem gás lacrimogéneo. Um absurdo! Quando uma mulditão avança, só lhes resta recuar e disparar com balas reais. Um deles disse-me que também é pai e que, terminada a jornada laboral, tem que regressar a casa depois de apanhar o chapa mais caro, encontrar o pão e o arroz também mais caros, pagar a luz e a água tambem mais caras. Triste..."
Adenda 19 às 12:37: um outro email que me foi enviado: "Só na praça da OMM 2 mortos, no prolongamento da Vladimir Lenine 2 feridos (um em muito mau estado). Vários carros e lojas vandalizadas ao longo do Prolongamento. Muito ódio germinado. Os polícias estão desesperados."»
PS: Em Maputo é 1 hora mais tarde que em Lisboa.