Um desenvolvimento interessante dos acontecimentos de 1 e 2 de Setembro é que os produtos alimentares na altura saqueados, dos contentores-cantina de nigerianos e outros estrangeiros, foram quase totalmente devolvidos.
Por toda a cidade se multiplicam as histórias que justificam esse acto inesperado. No Trevo, uma família terá sido acometida de fortes dores de barriga após comer desse arroz. No Benfica, terá saltado de um saco um rato que não era cinzento nem castanho, mas preto. Em Magoanine, conta-se de arroz que jorrava para fora da panela, ao ser cozinhado. Em Maxaquene, haverá quem tenha encontrado uma cobra ao abrir o saco, ou apenas cobras e nenhum arroz. Em vários pontos da cidade, gatos pretos pertencentes a esses comerciantes foram vistos a rondar as casas de quem os tinha saqueado.
É simples (tão simples que talvez se torne simplista) encarar este movimento colectivo de devolução de bens saqueados e as histórias que lhe estão associadas como um resultado exclusivo de medo da feitiçaria.
De facto, ao longo de todo o país, a propriedade é protegida por meios mágicos. Circulando pelas estradas, quantas vezes nos cruzamos com bancas de produtos à venda, cujo dono não se vislumbra? No entanto, nada dali é roubado – porque o dono “tratou” a banca contra roubo e, sobretudo, porque os potenciais ladrões acreditam na eficácia desse tratamento, não se arriscando a sofrer as consequências.
Também em Maputo, seria surpreendente (pelo menos, para o ‘cidadão comum’ dos bairros populares) que alguém no seu perfeito juízo abrisse um estabelecimento comercial sem ter encomendado um tratamento para atrair clientes e outro para evitar e punir roubos. Tinyanga das mais diversas origens retiram, aliás, uma parte apreciável dos seus rendimentos desses serviços de protecção a lojas, barracas, automóveis ou casas de habitação – embora também estejam habilitados a fornecer serviços de camuflagem mágica àqueles que pretendem roubar, seja na rua, seja em empresas ou instituições.
Mas, nestas coisas de protecção da propriedade, os estrangeiros são, por assim dizer, ‘jogadores de outra liga’. Os de origem europeia serão mais vulneráveis, por terem a mania de “não acreditar nessas coisas” e, por isso, não se precaverem. Já os de origem africana serão mais perigosos do que os nacionais, por se esperar que tragam consigo protecções e feitiços bem poderosos e, sobretudo, desconhecidos aqui – não se sabendo, por isso, que efeitos podem ter e como os neutralizar. Os próprios negociantes dos contentores-cantina fazem, aliás, gala em insinuar a confiança que sentem na protecção de que dispõem.
Assim, é perfeitamente compreensível que, após um acto de saque executado no calor e efervescência dos acontecimentos, acabem por chegar a apreensão e o medo acerca do mal que aqueles produtos roubados nos podem vir a fazer. E que, quando se oiça uma história como as que referi no início deste artigo, a apreensão se reforce e confirme, tornando bem mais seguro devolver do que consumir, por muita falta que aquele arroz nos faça.
Contudo, a minha experiência profissional faz-me suspeitar que, embora isto seja verdade, não é toda a verdade.
São duas as principais razões que me fazem pensar assim.
Por um lado, e embora a gravidade do que aqui aconteceu fosse muitíssimo menor, o carácter selectivo dos saques a contentores-cantina (atingindo africanos estrangeiros, mas poupando os moçambicanos que exercem a mesma actividade ao seu lado) trouxe à memória, de forma demasiado clara e intensa, um acontecimento recente que foi colectivamente traumático: os ataques xenófobos de que moçambicanos e outros estrangeiros foram vítimas na África do Sul, em 2008.
Para aquilatarmos o impacto social do que então sucedeu, bastará recordarmos – para além dos comentários de surpresa e indignação que se ouviam um pouco por todo o lado – que a onda de linchamentos periurbanos que vinha em crescendo desde finais de 2007 praticamente parou, só vindo a reaparecer muitos meses depois, quando se tornou público que altos dignitários do ministério do interior estavam acusados do roubo de bens públicos. E, para vermos como se tornou rapidamente claro para as pessoas esse desconfortável paralelo entre o que acontecera em Maputo e os anteriores ataques na África do Sul, bastará lembrar que um dos primeiros boatos populares acerca dos saques (que não ‘pegou’ e se deixou de ouvir) os atribuía, contra todas as evidências, às pessoas que tinham sido obrigadas a fugir da África do Sul em 2008 e não tinham conseguido refazer a sua vida.
Ou seja, parece que o difuso desagrado popular para com o sucesso e alegada arrogância dos chamados “nigerianos”, que foi expresso nos saques que sofreram, foi contrabalançado, passada a acção ‘a quente’, pelo desconforto moral de se ter feito para com eles uma coisa semelhante (embora bem menos violenta e grave) àquela que, chocante e traumaticamente, compatriotas haviam sofrido na África do Sul, por serem lá estrangeiros.
Mas, conforme referi, parece-me haver ainda uma outra razão envolvida nas devoluções de bens alimentares saqueados no início do mês.
É que não foi apenas nos mass media que os saques foram condenados, independentemente de quem os censurava poder até ser compreensivo ou mesmo entusiástico em relação às outras acções da “greve”. Também nos bairros (onde, conforme referi neste jornal a semana passada, as barricadas de pneus são assumidas como uma acção de todos mesmo por quem não participou nelas) os saques foram objecto de reprovação, embora mais tolerante quando se tratou de armazéns de grandes empresas, em vez de pequenos comerciantes.
Em parte, essa reprovação pode ter um carácter geral, independentemente de quem foi saqueado. Trata-se como que de uma mancha que veio poluir uma expressão de protesto com que essas pessoas concordam.
Mas a desaprovação pode também reforçar-se em função de quem é roubado. Tal como tende a existir tolerância, apesar do desagrado, para com os actos do “cabrito” que “come onde está amarrado”, ela também existe para com outros roubos, particularmente quando incidem sobre pessoas e entidades empregadoras. Neste caso, eles podem até ser olhados como um complemento que repõe alguma justiça num salário injusto. Pelo contrário, quem é linchado são pobres que (real ou supostamente) roubaram pobres.
Face a esta duplicidade de critérios morais (ou, se preferirmos, a esta adaptação da moralidade às posições sociais), os comerciantes de contentor estão numa posição ambígua. São considerados ricos em comparação com as pessoas a quem vendem, mas sabe-se que são pobres em comparação com os ‘verdadeiros’ ricos; ademais, mesmo quando estrangeiros, têm um estilo de vida semelhante ao dos seus clientes – ou seja, não são “mulungos de pele preta”, ao contrário dos habitantes das mansões, das vivendas e dos bons apartamentos. Por outras palavras, são suficientemente ricos e diferentes para serem pilhados no calor da revolta, mas nem eram aqueles ‘ricos’ o alvo do protesto, nem são suficientemente ricos para que o roubo possa, depois, ser visto como legítimo e aceitável.
Dessa forma, parece-me tão normal que estes saques tenham suscitado medo da feitiçaria como que tenham suscitado um duplo desconforto moral, reforçado pela implícita ou explícita reprovação dos vizinhos que não participaram neles: o desconforto com os seus paralelismos com acontecimentos xenófobos traumáticos e o desconforto com a pouca legitimidade daquele roubo, àquelas pessoas.
A apreensão popular para com o poder dos feitiços protectores (e legítimos) desses comerciantes estrangeiros já existia, muito antes de 1 de Setembro.
Sugiro contudo que, mais do que A razão para devolver os produtos saqueados (que, no caso de muitas pessoas, pode bem ter sido), o medo de efeitos mágicos foi, sobretudo, uma linguagem disponível e pertinente para expressar esse duplo desconforto moral e uma óptima justificação para lhe pôr cobro.
Não digo que as pessoas não acreditem nas histórias que relatei no início deste artigo. Digo que acreditaram de forma tão rápida e generalizada, e fizeram o que era racional fazer a partir do momento em que acreditaram (devolver os produtos), porque isso confluía com o dilema que tinham entre mãos e lhes permitia resolvê-lo.
O que, confesso, me agrada.
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)













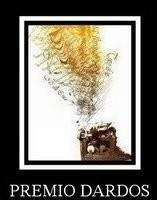



Sem comentários:
Enviar um comentário