ALBINOS E PRISIONEIROS DESAPARECEIDOS ( I - Albinos)
A ligação entre gémeos e prisioneiros desaparecidos, ambos supostamente sepultados em solo molhado, é de facto fornecida pelos albinos (imagem 2).
Acerca da crença local no desaparecimento dos albinos, João Pina Cabral ("Os albinos não morrem: crença e etnicidade no Moçambique pós-colonial", in O Processo da Crença) enfatizou o seu estatuto intersticial, nem “preto” nem “branco”, sugerindo que eles «não morrem» porque supostamente não são enterrados, e que essa recusa de os ligar à terra significa uma recusa de pertença, numa sociedade em que pertencer é primariamente marcado pela divisão “preto”/”branco”.
Podemos de facto dizer que a actual relevância da ambiguidade “racial” dos albinos é um aspecto evidente da sua situação e do interesse que despertam as representações acerca deles. Mas é apenas uma pequena parte dessas representações e, muito provavelmente, não é a chave para as compreender.
Numa sociedade como a moçambicana, em que a “raça” é vista como uma realidade biológica e não como uma construção socio-ideológica, e em que a cor da pele e as “misturas rácicas” detectáveis servem de base a diferentes comportamentos para com as pessoas, não se podem ignorar as questões identitárias e hierárquicas levantadas por uma pessoa “negra” com pele “branca”.
Mas não deveremos ignorar, tão pouco, que a relevância hierárquica da cor da pele é historicamente recente, e que as actuais representações acerca dos albinos são demasiado complexas para derivarem apenas da ambiguidade “rácica” – embora também sejam capazes de a representar.
Deveremos, por exemplo, recordar que apenas em meados do séc. XIX o primeiro imperador de Gaza viu, nas suas próprias palavras, um “branco branco” (por contraste com os “brancos” luso-indianos que costumavam comerciar no interior de Moçambique), e que esse homem era uma visita convidada a entrar no kraal real, de forma alguma uma pessoa com precedência hierárquica sobre a população e autoridades locais (Deocleciano Fernandes das Neves, Das Terras do Império Vátua às Praças da República Boer).
Claro que os “brancos” eram conhecidos muito antes disso, em torno das áreas limitadas onde se tinham estabelecido, mas salvo excepções regionais não ocupavam na maioria dos casos uma posição dominante, especialmente no sul de Moçambique. Por exemplo, o Governador de Lourenço Marques era considerado pelo rei local, em 1833, um chefe subordinado que lhe devia tributo e o argumento para atacar a sua fortaleza e o matar foi a sua insubordinação (ver Gerhard Lieagang, A guerra dos reis Vátuas...).
É óbvio que a relevância social da “brancura” de pele durante os tempos coloniais (1895/1975), e depois deles, é muito mais recente que a anomalia representada pelos albinos. Mas é também previsível e plausível que essa relevância seja, igualmente, muito mais recente do que a necessidade social de interpretar e explicar a excepção representada pelos albinos – uma explicação pertinente, mesmo para pessoas que pensassem ter toda a humanidade a pele castanha.
Curiosamente, Henry Junod não menciona explicitamente os albinos no seu detalhado livro Usos e Costumes dos Bantu, quando lida com as ideias dos indígenas «relativas às diferentes raças humanas» (pp. 298-300). Parece, então, que nesse tempo os albinos não lhe tinham sido apresentados como uma questão rácica.
Mas penso que de facto fala acerca deles, sem o notar, quando discute a origem da palavra valungo para designar “homem branco”. Junod nega que a etimologia do termo venha de um verbo zulu que significa “ser justo” e sugere a palavra local valungwana, que traduz por “habitantes do céu”, especulando que tal designação viria provavelmente de alguma mitologia esquecida acerca de “homem branco”. Contudo, acreditava-se os portugueses agora dominantes vinham do mar, não do céu, e os gémeos eram (e ainda chão) referidos como “filhos do céu”.
Embora Junod nunca tenha realmente descodificado o sentido desta última designação celestial, esse sentido era claro na informação recolhida por Feliciano na década de 1970 e que eu próprio pude ouvir cerca de 30 anos depois: conforme mencionei, os gémeos e os albinos são filhos do céu porque, independentemente da sua concepção terrestre, receberam a sua condição excepcional ao serem atingidos por um raio dentro do útero materno. Os gémeos foram fendidos em dois mas os albinos não, apenas tendo sido queimados e, com isso, perdido a cor da sua pele.
No entanto, ambos alcançaram, com esse incidente, uma relação próxima e privilegiada com os fenómenos celestes. Uma relação que, conforme também já mencionei, é ameaçadora da ordem e da fecundidade pois, no quadro simbólico em que está integrada, os gémeos e os albinos são simultaneamente “demasiado quentes” e “uma trovoada sem chuva”. Devido a essas características, carregam em si o potencial para a desordem, para a doença e para secar o céu e a terra.
Uma das consequências da origem comum e celeste dos gémeos e albinos é que, se Junod tinha razão acerca da etimologia, o mais provável é que os “brancos” tivessem sido nomeados metaforicamente a partir dos albinos (com um sentido de “caras pálidas”), com base em prévias crenças acerca destes últimos. A ser assim, os albinos foram originalmente a referência para classificar os “brancos”, e não o contrário.
Mas, mais importante para o assunto que temos entre mãos, os albinos e os gémeos são simbolicamente equivalentes. Os albinos são vistos como gémeos incompletes que, ainda mais que estes últimos, carregam em si o poder destrutivo do raio, que nem foi capaz de os fender a meio – e, devido a isso, também carregam maiores consequências ameaçadoras, para a sociedade e para o cosmos, do que os gémeos.
Sugiro que é devido a essa condição superlativamente ameaçadora que não é suposto os albinos serem enterrados em lugares e circunstâncias especiais, à imagem do que acontece com os gémeos, mas não serem enterrados de todo. É por isso, então, que é suposto eles não morrerem, mas desaparecerem.
É claro que os albinos morrem e são enterrados. Alguns dos seus parentes mais próximos cumprem esse dever em segredo, seguindo os procedimentos prescritos para os gémeos e escondendo a localização da campa. Ao fazê-lo, protegem quer a segurança cósmica quer as crenças da comunidade:[1] os albinos continuam a desaparecer, porque ninguém pode dizer que assistiu ao funeral de um deles.
[1] Também na vizinha Tanzânia os albinos não são suposto morrer. Mas, paradoxalmente, partes dos seus corpos são procuradas para efeitos de feitiçaria de enriquecimento, visto que o enriquecimento pessoal é visto como algo que seca a riqueza à sua volta. Por essa razão e por ser desconhecida a localização das suas campas, pelo menos 19 albinos foram mortos e mutilados post mortem, em 2007 (Gettleman 2008).
Também em Moçambique, os mais poderosos amuletos e tratamentos mágicos para obter e manter riqueza e poder exigem partes de corpos humanos mas, tanto quanto sei, não especificamente de albinos. Isto pode contudo mudar em breve, devido ao ocorrido na Tanzânia e à habitual rapidez com que novas técnicas mágicas se espalham na região.
Os dados acerca dos procedimentos funerários com albinos resultam de uma comunicação pessoal de Danúbio Lihahe.













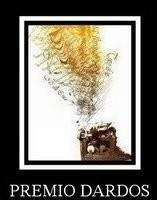



Sem comentários:
Enviar um comentário