Há uns dias atrás, argumentava aqui que a unilateral decisão de alongar o horário laboral e não pagar os subsídios de férias e natal, associada à redução dos direitos de segurança social e à descapitalização dos serviços de saúde e educação, constitui uma brutal subversão do pacto social estabelecido na Europa desde a II Guerra Mundial, feita a coberto da “tecnocráticas” necessidades de combate à dívida pública.
E dizia que essa revanchista receita liberalona põe em causa a relativa paz social e segurança pública – que os apologistas de tais medidas dão como asseguradas e normais, mas que resultaram nas últimas décadas, precisamente, do grau de previsibilidade e segurança que o estado social e a negociação consequente dos termos de trabalho (aceites e implementados por governos de todas as cores, entre outras coisas com o intuito de assegurarem essa paz e segurança) garantiam à vida dos trabalhadores.
No debate do assunto, veio à tona uma ideia que parece deixar muito satisfeita alguma boa gente de esquerda, talvez por verem nela um sinal de amanhãs que cantam ou, pelo menos, de umas redentoras (não me perguntem de quê) pancadarias urbanas de toca-e-foge.
Trata-se da ideia de que o Estado Social (tal como os consensos daí resultantes) só foi e é possível com um crescimento económico sustentado e contínuo, característico da época em que foram implementados. E consequentemente que, sem esse crescimento (em fases de estagração, crise ou recessão), ele não é viável.
Ora não é por acaso que essa ideia (que também faz de conta que o crescimento sustentado só teria existido da II Guerra Mundial à chamada “primeira crise energética”) nasceu no seio da direita neo-liberal e é por ela propagandeada, mesmo se é também papagueada por pessoas real ou supostamente “de esquerda”, sobretudo se estão num governo.
Em primeiro lugar (e residirá aí o interesse mais imediato de quem a inventou), essa ideia justifica e legitima a destruição do Estado Social e de qualquer garantia de segurança de vida dos trabalhadores, pois essas coisas do acesso universal à saúde e à educação, a par da segurança na doença, no desemprego, na incapacidade e na velhice, são luxos faraónicos a que uma sociedade só se poderá dar se estiver sempre a abarrotar de cada vez mais riqueza.
Por outras palavras (que essa gente não usa), dizem-nos que, sempre que as taxas de lucro desçam abaixo das «legítimas expectativas» dos investidores, estes têm que ir sacar mais algum, quer seja àquela parte dos “gastos” com o trabalho que nós não chegamos a ver sob a forma de salário (a tal TSU e os nossos próprios descontos), quer a subvenções e benefícios estatais, tornados possíveis pelo desmantelamento desses custos “parasitários” para a economia que são a segurança social e a saúde e educação públicas. Claro que - passado o aperto da “crise”, da “recessão”, ou da “baixa competitividade” – esses sacanços vêm somar-se às anteriores «legítimas expectativas» de lucro entretanto criadas, justificando que o capital exija a sua continuidade.
Mas, se não nos dizem explicitamente isso, já nos dizem, repetem e (pelos vistos) têm algum sucesso a convencer-nos, que não apenas é inevitável «acabar a mama» desse «viver acima das possibilidades» sociais, mas também que, como crises há muitas e cada vez mais, essas veleidades de vida individual minimamente protegida pelo colectivo têm que ser esquecidas. Ou seja, dizem-nos que esses não são direitos, arduamente conquistados e impostos aos capitalistas; são luxos “contra-natura económica”.
Em segundo lugar, essa ideia de que o Estado Social não é viável fora de excepcionais condições de crescimento económico hipoteca a justiça social, não apenas no presente e num quadro de economia capitalista, mas em quaisquer alternativas.
Isto porque, já que os produtores e reprodutores dessa ideia assumem que o capitalismo é o sistema mais eficiente para criar crescimento económico sustentado (o que, com crises e tudo, até parece ser confirmado pela experiência histórica recente, embora tal não possa ser projectado sobre eventuais alternativas futuras ao capitalisto), e já que nem o próprio capitalismo desenvolvido “se pode dar a esses luxos”, essa perversa ideia diz-nos que, num modelo de sociedade alternativo ao capitalismo, ou não seriam sustentáveis a protecção social e o acesso à saúde e educação, ou só poderiam existir à custa da miséria nas restantes áreas da sociedade e da vida económica. Uma conclusão tétrica e injustificada, claro está, mas que é uma mera decorrência lógica da tal ideia que reproduziu.
Por fim, essa ideia de que o Estado Social só é possível em situação de crescimento económico acabaria de vez com qualquer veleidade de justiça social generalizada (fosse em que sistema económico fosse), caso tenhamos uma visão prospectiva e ecologicamente consciente do futuro.
Efectivamente, de acordo com essa visão cada vez mais justificada, o justo e necessário aumento do consumo nos países mais pobres, conjugado com as limitações planetárias à utilização sustentável de recursos e de energia, implicará, a prazo, que o consumo nos países mais ricos tenha que baixar e que assumir novos padrões. Nessas condições futuras, a ideia liberal que tenho vindo a criticar implicaria desistirmos para sempre daquilo que é assegurado pelos direitos sociais e o Estado-providência, pois o crescimento económico na Europa passaria a ser (por imposição da sustentabilidade do consumo à escala global) nulo ou mesmo negativo.
Posto isto, é claro que não há evidências empíricas que sustentem essa suposta relação absoluta entre crescimento económico continuado e a viabilidade do Estado Social. Aliás, a coisa mais aproximada a elementos de um “estado social” que foram implementadas nos EUA não ocorreram nas décadas da expansão económica pós-guerra, mas em resposta às duríssimas condições da recessão dos anos 30 (com o New Deal) e já bem depois “1ª crise energética”.
Na verdade, a ideia dessa relação automática requer, para fazer sentido, dois outros raciocínios e pressupostos complementares:
Requer, por um lado, o pressuposto de que (como afirmava a economia clássica pré-marxista e repete o mainstream económico actual), o lucro seja um extra relativamente ao custo de fabrico, que se obtém no mercado em função tanto da oferta e da procura quanto da legítima expectativa de uma determinada taxa de lucro, tendencialmente semelhante em todos os sectores éconómicos. E que portanto não seja, conforme defendeu Marx, uma parte do valor do trabalho incorporado na mercadoria que não é paga ao trabalhador (diríamos hoje que sob a forma de salário ou de prestações sociais), sendo apropriada pelo patrão e materializada em dinheiro com a venda do produto no mercado. Ou seja, que a taxa de lucro é um dado a priori, legítimo e por isso intocável (por exemplo, para financiar em grau mais elevado os serviços e prestações sociais do estado), sob pena de se cometer uma injustiça e se hipotecar a capacidade de reprodução da economia.
Acreditar que a viabilidade do estado social depende de um contínuo crescimento económico requer, por outro lado, o pressuposto de que os formatos dos direitos sociais (e do próprio “contrato social”) são e devem ser comandados pelas conjunturas económicas, em vez de dependerem de opções políticas e de correlações de poder – ou seja, que não há luta de classes entre diferentes interesses em jogo, e que a esfera do político se tem que submeter à ditadura da esfera do económico, segundo a forma como a economia (e o estado em que se encontre) for interpretada e avaliada pelas classes dirigentes.
É claro que os serviços (e segurança no futuro) que são garantidos pelo estado social constituem uma forma indirecta de distribuição de riqueza entre capital e trabalho. É claro que os interesses das partes são diferentes, e que o aumento da “fatia” de riqueza de uma delas se faz à custa da outra, esteja-se em crescimento ou em depressão económica. É claro que, por isso, os salários reais e os benefícios sociais não têm que seguir as flutuações das conjunturas económicas. Podem aumentar mesmo que a economia decresça, tal como podem ser degradados em tempos de crescimento económico (como em décadas passadas), ou (como agora) num grau muito maior do que o da degradação da economia. A questão é qual é a parte do trabalho e do capital na distribuição da riqueza, e isso não é um automatismo económico, mas uma opção política e o resultado de uma correlação de forças sociais.
Não obstante, ao aceitarmos e reproduzirmos a ideia de o estado social só é sustentável em situações de crescimento económico contínuo e sustentado, não é isso que vemos, mesmo que o saibamos. Para além de estarmos a ser roubados e a aceitar o roubo, stamos a aceitar implicitamente tudo aquilo que antes referi.
Este processo de hegemonia, em que engolimos e papagueamos as justificações que os dominantes apresentam para legitimar a dominação e roubo que sofremos, é sempre relevante e merecedor da nossa atenção e reflexão.
Mas, agora, mais do que alguma vez antes. Porque o que de mais importante está em causa não é a falta que nos faz o dinheiro que nos tiram e o tempo de trabalho que nos impõem. É a destruição do contrato social e do modelo de sociedade que conquistámos e pelo qual nos temos regido.
E dizia que essa revanchista receita liberalona põe em causa a relativa paz social e segurança pública – que os apologistas de tais medidas dão como asseguradas e normais, mas que resultaram nas últimas décadas, precisamente, do grau de previsibilidade e segurança que o estado social e a negociação consequente dos termos de trabalho (aceites e implementados por governos de todas as cores, entre outras coisas com o intuito de assegurarem essa paz e segurança) garantiam à vida dos trabalhadores.
No debate do assunto, veio à tona uma ideia que parece deixar muito satisfeita alguma boa gente de esquerda, talvez por verem nela um sinal de amanhãs que cantam ou, pelo menos, de umas redentoras (não me perguntem de quê) pancadarias urbanas de toca-e-foge.
Trata-se da ideia de que o Estado Social (tal como os consensos daí resultantes) só foi e é possível com um crescimento económico sustentado e contínuo, característico da época em que foram implementados. E consequentemente que, sem esse crescimento (em fases de estagração, crise ou recessão), ele não é viável.
Ora não é por acaso que essa ideia (que também faz de conta que o crescimento sustentado só teria existido da II Guerra Mundial à chamada “primeira crise energética”) nasceu no seio da direita neo-liberal e é por ela propagandeada, mesmo se é também papagueada por pessoas real ou supostamente “de esquerda”, sobretudo se estão num governo.
Em primeiro lugar (e residirá aí o interesse mais imediato de quem a inventou), essa ideia justifica e legitima a destruição do Estado Social e de qualquer garantia de segurança de vida dos trabalhadores, pois essas coisas do acesso universal à saúde e à educação, a par da segurança na doença, no desemprego, na incapacidade e na velhice, são luxos faraónicos a que uma sociedade só se poderá dar se estiver sempre a abarrotar de cada vez mais riqueza.
Por outras palavras (que essa gente não usa), dizem-nos que, sempre que as taxas de lucro desçam abaixo das «legítimas expectativas» dos investidores, estes têm que ir sacar mais algum, quer seja àquela parte dos “gastos” com o trabalho que nós não chegamos a ver sob a forma de salário (a tal TSU e os nossos próprios descontos), quer a subvenções e benefícios estatais, tornados possíveis pelo desmantelamento desses custos “parasitários” para a economia que são a segurança social e a saúde e educação públicas. Claro que - passado o aperto da “crise”, da “recessão”, ou da “baixa competitividade” – esses sacanços vêm somar-se às anteriores «legítimas expectativas» de lucro entretanto criadas, justificando que o capital exija a sua continuidade.
Mas, se não nos dizem explicitamente isso, já nos dizem, repetem e (pelos vistos) têm algum sucesso a convencer-nos, que não apenas é inevitável «acabar a mama» desse «viver acima das possibilidades» sociais, mas também que, como crises há muitas e cada vez mais, essas veleidades de vida individual minimamente protegida pelo colectivo têm que ser esquecidas. Ou seja, dizem-nos que esses não são direitos, arduamente conquistados e impostos aos capitalistas; são luxos “contra-natura económica”.
Em segundo lugar, essa ideia de que o Estado Social não é viável fora de excepcionais condições de crescimento económico hipoteca a justiça social, não apenas no presente e num quadro de economia capitalista, mas em quaisquer alternativas.
Isto porque, já que os produtores e reprodutores dessa ideia assumem que o capitalismo é o sistema mais eficiente para criar crescimento económico sustentado (o que, com crises e tudo, até parece ser confirmado pela experiência histórica recente, embora tal não possa ser projectado sobre eventuais alternativas futuras ao capitalisto), e já que nem o próprio capitalismo desenvolvido “se pode dar a esses luxos”, essa perversa ideia diz-nos que, num modelo de sociedade alternativo ao capitalismo, ou não seriam sustentáveis a protecção social e o acesso à saúde e educação, ou só poderiam existir à custa da miséria nas restantes áreas da sociedade e da vida económica. Uma conclusão tétrica e injustificada, claro está, mas que é uma mera decorrência lógica da tal ideia que reproduziu.
Por fim, essa ideia de que o Estado Social só é possível em situação de crescimento económico acabaria de vez com qualquer veleidade de justiça social generalizada (fosse em que sistema económico fosse), caso tenhamos uma visão prospectiva e ecologicamente consciente do futuro.
Efectivamente, de acordo com essa visão cada vez mais justificada, o justo e necessário aumento do consumo nos países mais pobres, conjugado com as limitações planetárias à utilização sustentável de recursos e de energia, implicará, a prazo, que o consumo nos países mais ricos tenha que baixar e que assumir novos padrões. Nessas condições futuras, a ideia liberal que tenho vindo a criticar implicaria desistirmos para sempre daquilo que é assegurado pelos direitos sociais e o Estado-providência, pois o crescimento económico na Europa passaria a ser (por imposição da sustentabilidade do consumo à escala global) nulo ou mesmo negativo.
Posto isto, é claro que não há evidências empíricas que sustentem essa suposta relação absoluta entre crescimento económico continuado e a viabilidade do Estado Social. Aliás, a coisa mais aproximada a elementos de um “estado social” que foram implementadas nos EUA não ocorreram nas décadas da expansão económica pós-guerra, mas em resposta às duríssimas condições da recessão dos anos 30 (com o New Deal) e já bem depois “1ª crise energética”.
Na verdade, a ideia dessa relação automática requer, para fazer sentido, dois outros raciocínios e pressupostos complementares:
Requer, por um lado, o pressuposto de que (como afirmava a economia clássica pré-marxista e repete o mainstream económico actual), o lucro seja um extra relativamente ao custo de fabrico, que se obtém no mercado em função tanto da oferta e da procura quanto da legítima expectativa de uma determinada taxa de lucro, tendencialmente semelhante em todos os sectores éconómicos. E que portanto não seja, conforme defendeu Marx, uma parte do valor do trabalho incorporado na mercadoria que não é paga ao trabalhador (diríamos hoje que sob a forma de salário ou de prestações sociais), sendo apropriada pelo patrão e materializada em dinheiro com a venda do produto no mercado. Ou seja, que a taxa de lucro é um dado a priori, legítimo e por isso intocável (por exemplo, para financiar em grau mais elevado os serviços e prestações sociais do estado), sob pena de se cometer uma injustiça e se hipotecar a capacidade de reprodução da economia.
Acreditar que a viabilidade do estado social depende de um contínuo crescimento económico requer, por outro lado, o pressuposto de que os formatos dos direitos sociais (e do próprio “contrato social”) são e devem ser comandados pelas conjunturas económicas, em vez de dependerem de opções políticas e de correlações de poder – ou seja, que não há luta de classes entre diferentes interesses em jogo, e que a esfera do político se tem que submeter à ditadura da esfera do económico, segundo a forma como a economia (e o estado em que se encontre) for interpretada e avaliada pelas classes dirigentes.
É claro que os serviços (e segurança no futuro) que são garantidos pelo estado social constituem uma forma indirecta de distribuição de riqueza entre capital e trabalho. É claro que os interesses das partes são diferentes, e que o aumento da “fatia” de riqueza de uma delas se faz à custa da outra, esteja-se em crescimento ou em depressão económica. É claro que, por isso, os salários reais e os benefícios sociais não têm que seguir as flutuações das conjunturas económicas. Podem aumentar mesmo que a economia decresça, tal como podem ser degradados em tempos de crescimento económico (como em décadas passadas), ou (como agora) num grau muito maior do que o da degradação da economia. A questão é qual é a parte do trabalho e do capital na distribuição da riqueza, e isso não é um automatismo económico, mas uma opção política e o resultado de uma correlação de forças sociais.
Não obstante, ao aceitarmos e reproduzirmos a ideia de o estado social só é sustentável em situações de crescimento económico contínuo e sustentado, não é isso que vemos, mesmo que o saibamos. Para além de estarmos a ser roubados e a aceitar o roubo, stamos a aceitar implicitamente tudo aquilo que antes referi.
Este processo de hegemonia, em que engolimos e papagueamos as justificações que os dominantes apresentam para legitimar a dominação e roubo que sofremos, é sempre relevante e merecedor da nossa atenção e reflexão.
Mas, agora, mais do que alguma vez antes. Porque o que de mais importante está em causa não é a falta que nos faz o dinheiro que nos tiram e o tempo de trabalho que nos impõem. É a destruição do contrato social e do modelo de sociedade que conquistámos e pelo qual nos temos regido.













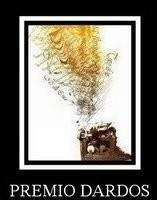



Sem comentários:
Enviar um comentário