Um linchamento não se reduz ao acto colectivo de matar, ou sequer ao aparente consenso (entre os que matam e/ou assistem) acerca da justeza e necessidade dessa morte.
Ele implica tipologias de procedimentos que, podendo variar bastante no espaço e em pouco tempo, têm algo em comum: são reconhecíveis pelos presentes (a partir de referências culturais que dominem) como indicadoras de que se está a linchar e não apenas a matar, e de que o acto que se está a executar é excepcional e não rotineiro.
Por outras palavras, o linchamento é um acto ritualizado, em que, como em qualquer ritual, a forma da acção (e do discurso) afirma e reitera o sentido daquilo que está a ser feito. Como em qualquer ritual, também, é expresso o carácter excepcional daquilo que está a acontecer e a suspensão da vida normal que aquele acto representa. Como em qualquer ritual, por fim, o linchamento é também uma performance, que permite transmitir esses sentidos e não apenas provocar a morte.
Assim sendo, penso que não será certamente irrelevante para este fenómeno o facto de existir, em Moçambique, uma familiaridade histórica com os castigos corporais (e a morte) públicos, ou mesmo, por estranho que isto soe, uma reafirmada estética performativa desses castigos e mortes.
Há muitas referências que nos permitem fazer recuar essa familiaridade e imaginário a tempos anteriores à ocupação colonial efectiva do território.
Basta pensarmos nas formas de execução pública dos invasores vaNguni de origem Zulu, no séc. XIX, que aliás levantam um perturbante paralelo com um acontecimento recente, que mereceria um estudo aprofundado: uma mulher linchada durante o recente motim de Chimoio, acusada de dar guarida aos criminosos e de ser feiticeira, foi empalada pela vagina, tal como nessas antigas execuções por adultério. Tratar-se-á de uma mera reapropriação de uma forma ultrajante de morrer, de que alguém tinha um vago conhecimento, ou será que diz algo mais acerca das razões por que essa mulher foi morta e do seu papel na comunidade, quando viva?
Também em tempos coloniais o castigo corporal, embora não a execução pública, era uma punição normal, decretada por autoridades administrativas ou mesmo por patrões.
Estão bem presentes no imaginário popular tanto as palmadoadas com a “menina-de-cinco-olhos” (com a dupla humilhação de este ser também um castigo escolar e que, portanto, infantilizava os adultos que lhe era submetidos), como o chicoteamento com chamboco – em ambos os casos predominantemente públicos, para que fossem não apenas punições, mas também formas de intimidação.
Na fase revolucionário pós-independência, a estética da morte e do castigo corporal públicos parece ter-se tornado ainda mais espectacular e ritualizada. São inúmeras as referências ao chambocamento público nos Campos de Reeducação (foto acima) ou até por parte de Grupos Dinamizadores, tendo mesmo sido integrados na legislação penal em 1983. Também se realizaram fuzilamentos públicos, com o grau de encenação e de compulsão para se assistir que estão habitualmente associados a essa prática.
Por fim, a guerra civil ficou marcada por relatos quer de fuzilamentos públicos sumários e selectivos – de autoridades administrativas, professores, enfermeiros – durante raides a zonas adversas, quer de crianças e jovens forçados a matar familiares ou vizinhos, quando não a comer pedaços deles, com o intuito de evitar que, uma vez levados pelos guerrilheiros, tivessem para onde desertar.
Não quero, ao enunciar estes sucessivos horrores, sugerir de forma alguma que a familiaridade com a morte e a punição corporal que deles resulta tenha banalizado o acto de matar e/ou torturar publicamente, ou tenha tornado irrelevante a vida humana.
Pelo contrário, proponho, é exactamente o valor atribuído à vida humana e o carácter excepcional da morte pública (e provocada pelo colectivo ou supostamente em seu nome) que permite e justifica o linchamento.
O que essa familiaridade histórica fornece é o conhecimento corrente de uma estrutura performativa de castigo e de afirmação do poder, que assim se encontra disponível para ser utilizada. Não é o matar pública e colectivamente que se banaliza, mas o conhecimento de que essa é uma forma reconhecível e culturalmente pertinente de punir, e de expressar ao mesmo tempo o carácter extraordinário e os sentidos associados a essa punição.
Que sentidos serão esses?
É adequado encarar os antecedentes históricos que referi à luz da proposta de Michel Foucault, que encara as execuções na Europa medieval como rituais públicos de dominação pelo terror, em que o objecto da pena é o corpo do condenado, mas o seu objectivo é fazer o povo testemunhar a vitória do poder instituído sobre o criminoso que o desafiou.
Mas, encarando os linchamentos como uma questão de poder, parece-me evidente que, no caso deste fenómeno, a leitura pertinente não é essa – quanto mais não seja, porque os actores são outros, com posições diferentes nas estruturas de relações de poder e os sentidos expressos pelo acto terão que o ser também.
Constituindo uma suspensão da normalidade em que as regras sociais correntes são consciente e colectivamente subvertidas, o linchamento é uma situação de liminaridade.
Ou seja, seguindo a sugestão de Victor Turner, o linchamento peri-urbano é uma subversão da ordem corrente que apresenta as condições privilegiadas para produzir nova ordem, com base na construção de novos consensos sociais.
A “nova ordem” procurada (sugiro-o e irei argumentá-lo no próximo post) é um “sair da garrafa”; é o assumir de um poder que se considera alienado e que, mais do que sobre os elementos socialmente disruptores, se pretende exercer sobre o próprio futuro colectivo.
O linchamento é, também, uma afirmação desse poder.













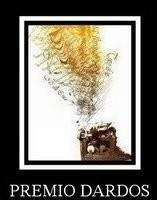



Sem comentários:
Enviar um comentário